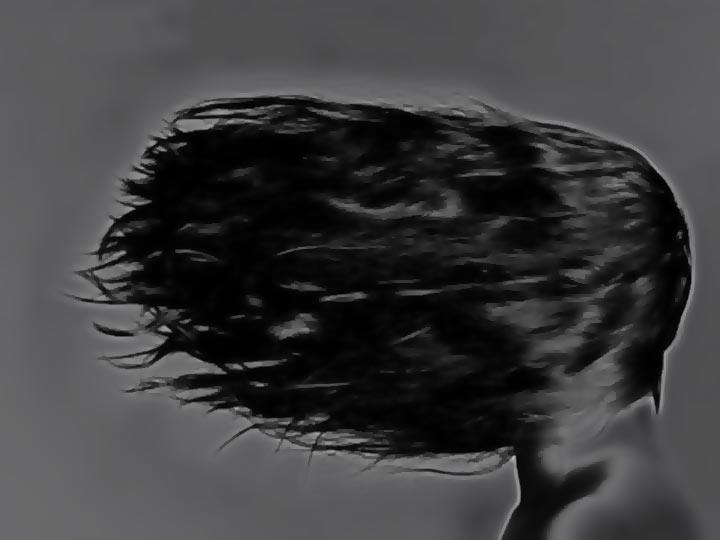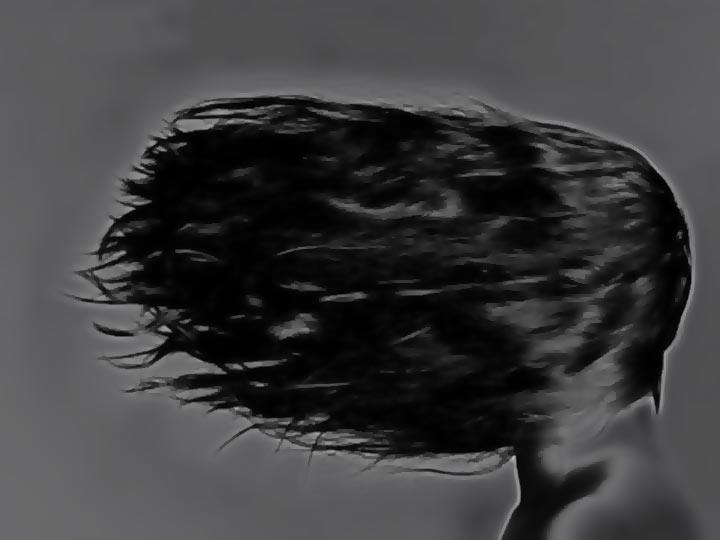Prelúdios
Mas era de um bom gosto infalível e além de tudo, não era mesquinho. Getúlio, de sua infância aos recantos e sofrimento em puberdade, passara a vida estudando o seu próprio comportamento e o de outros e o de tantos. O mundo era mesmo um enorme enredo de fonte de estudo. Aos 8 anos, lembra-se bem, nada de tão ágil criança porque sofria e não seria de alegria a sua face. Perdera a mãe. Tristeza absoluta. A maior desgraça de um homem é perder sua raiz e sua mãe era a porção que o protegia e era bela a criança e mais que bela a sua mãe. Primeira observação e tão precoce. Parece que tudo o que se perde se torna maior e sofrimento nos faz crescer. Continuara a vida ao lado do pai e duas irmãs pares de vasos idênticos e tão delicadinhos. Uma e outra. E o pai era calmo que só vendo. Era como tartaruga presa entre os galhos de plantas que nascem pelo chão. Um relógio atrasado. Era dessa forma que analisara o pai. E tomava nota de tudo porque era astuto de força e tamanho. Uma dessas crianças que crescem mais rápido que outras e enxergam minúcias.
Sua família era o seu deleite e o tempo furtava de Getúlio mais idade ou, como ele afirmava ser, o tempo o construía melhor em fásicas urgências de vida. Viver é redobrar reforço porque, logo após a morte de sua mãe, órfão e tão coitado, fortalecera sua outra parte que havia negado durante algum tempo. Esmeril de olhares, Getúlio plantou-se a estudar. O pai tartaruga e as irmãs mais velhas como é de costume. Nenhum herói possui irmãs mais novas. São sempre mais velhas, histéricas e abobalhadas. Porque o herói precisa de um motivo para existir. Ele precisa que tudo seja medonho e obscuro. O herói precisa salientar-se. E aqui consta a narrativa da vida de Getúlio de nome simples e olhos ecléticos e fazedor de conta que era maravilhoso e seria eterno e sua mãe não estaria lá quando, finalmente, enfaticamente, completaria seus estudos.
Aos 19 anos completara tudo. Do alfabeto ao trajeto de corredores e professores fazendo alarde porque o menino sem mãe havia conseguido a chance. Teria nome. E no meio da história, no recheio do livro, suas irmãs já eram casadas e o pai havia encontrado um novo amor. Amor este que fez de Getúlio o mais vil e estúpido obséquio. Lucinda era linda e tão corpulenta. O pai a conhecera numa feira de antiguidades e levara Lucinda para conhecer os filhos. Getúlio, Isolda e Arminda. Belas criaturas, dizia Lucinda e Getúlio sentiu, aos 14 anos, o primeiro rubor de necessidade. E das faces largou o rubor e fez erguer do menino a sua parte que, até então, estava adormecida. Exceto nos dias em que observava o par de lindos vasinhos floridos trocarem suas vestes e beijar seus amigos ao portão. Ele anotava tudo em seu caderno de observações. Minhas irmãs são belas. Quem dera não fossem irmãs porque Deus não me estaria olhando e meu amor por elas é tão risonho e poema. Que pode haver de culpa em desejá-las?
Mais tarde, aos 12 anos, pôde entender essa questão nas aulas de Educação Religiosa e ao ler Frederico soube, embora não acreditasse, que sofria de ausência feminina porque a mãe o havia deixado. E agora o pai amando outra mulher e substituindo a mãe. Mas era o mundo e acontecimentos surgem e pessoas atravessam nossos olhos e passam a ser parte de nosso convívio. E Lucinda estava bela ao casamento. Rosada e seus cabelos ornamentavam seu corpo bruto. Ele não queria desejar, mas já ardia e desde cedo, aos 13 anos, não havia mais controle e rompia suas irmãs numa silenciosa sinfonia de mãos tapando a boca e abrindo as pernas e deixava em caquinhos de cerâmica os vasinhos. E corria sôfrego ao quarto e sorria pálido, mas quem haveria de não desejar suas irmãs? Sentia-se bondoso e caridoso por cuidar da carne antes de ser exibida ao empório masculino.
E a cerimônia temporou por duas horas e taças espumantes e Lucinda sorria de tanta alegria e o pai de Getúlio era de um olho comprido que agora estava sereno e casado de novo. Sentia-se homem. Sabia que havia feito bom trabalho ao criar seus filhos. As meninas crescidas, prendadas e o rapaz era tão honesto e lia obras de todo escritor, ao pé da vela, todas as noites. O pai tinha orgulho de seu filho Getúlio que agora estava a tratar de sua vida profissional e seria advogado o seu filho que ali se encontrava, em terno e traje de homem, 15 anos e tão adulto. Sorria o pai e também sorriam todos que ali estavam como testemunhas oculares de mais um casamento por amor e doce sacramento. E o rapaz não perderia aquela chance de fazer de novo coleção em seu diário de acontecimentos.
Não era violento. Tampouco estranho. Era apenas órfão e isso explicaria suas atitudes. E não há suspense. A cena decorre como espera o leitor. Lucinda vai ao quarto e logo entra Getúlio e mal pôde gritar a mulher e ele já estava sobre ela e os dois eram vestido branco e terno escuro copulando na cama do pai. Terminada a tarefa, Lucinda vestiu-se e saiu em lua-de-mel com o pai de Getúlio. Todos aplaudiam o casal. Arroz para que tudo fosse eterno e a fertilidade não os abandonasse. Getúlio estava em seu quarto anotando a experiência e como desejava ser seu pai por dias. Ser Lucinda por dias. Ela fora formidável. Não havia sido como as irmãs. Elas sempre choravam. E nem as primas. Eram secas e não faziam sentir o que Getúlio procurava. Nem as meninas da escola. Nem a tia, irmã de seu pai. Todas as mulheres eram mal sentidas. E os primos também e os amigos da escola e o padre. Este não pode deixar de existir. Todo aquele que procura ávida vivência não se priva de qualquer criatura para saber o que será de tal experiência.
E tudo estava anotado em seu caderno. Aos 19 anos possuía mais memórias que seu pai ou o velho orador que falava filosófico no dia da formatura. Estavam todos lá. As irmãs e seus maridos e filhos. Elas pareciam ter esquecido que o irmão havia feito e agiam natural. Silenciosas. O pai sorria evidente de orgulho porque havia criado o filho Getúlio para ser o onipotente que não conseguira ser. E ao lado do pai figurava Lucinda. De barriga cheia e de mãos dadas com o filho irmão de Getúlio. Repertório tolo se fosse assim apenas. De tão leve eloquência.
Getúlio havia escolhido o nome de seu irmão, assim como à criança havia doado a existência. Dos 4 anos de vida do amor entre Lucinda e seu pai, Getúlio vivera 4 anos engolindo Lucinda pelos cantos e dormitórios daquela cidade e não sabiam os ingênuos olhares, mas o amor não se faz de um enlace de branco e renda. Lucinda e Getúlio viviam a esbórnia do amor tortuoso e maldoso e se amavam difusos de uma mesma categoria de humanos. Eram sais de banho da mesma alquimia e ela gerava filhos de Getúlio e ele a doava ao pai porque sabia que sempre a teria. E tolice seria dizer do amor como sentimento nobre. Lucinda sempre o desejou e Getúlio fora usado como carne antes da exposição ao empório feminino.