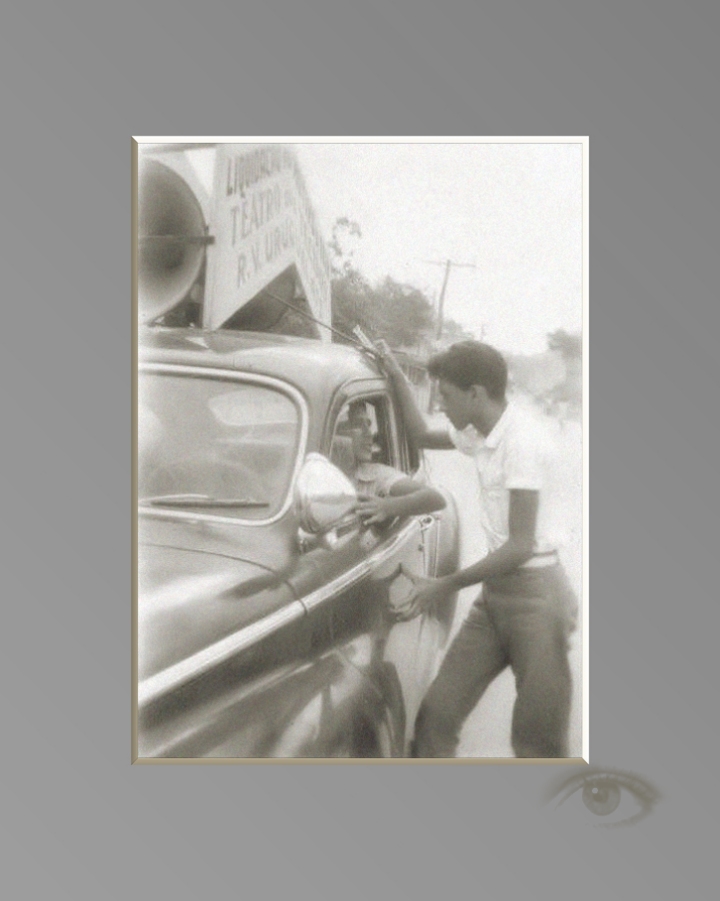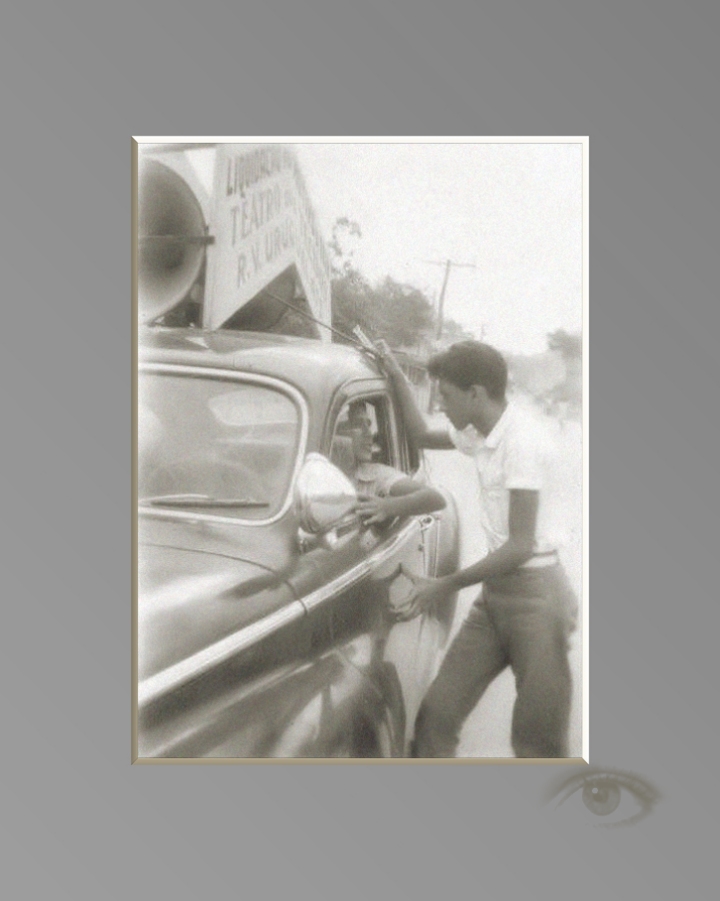Já
escrevi uma crônica sobre um menino cujo sonho era que nunca lhe
faltasse guaraná. Esse menino era eu. Claro que, na crônica, o
personagem era diferente de mim. Mas, por dentro, era
eu.
Ansiava
pela chegada dos sábados por causa do guaraná. Era aos sábados que meus
irmãos mais velhos estacionavam o velho Mercury, com alto-falantes na
capota, e vinham almoçar em família. E, como naquele dia recebiam o vale
semanal, compravam guaraná. Uma garrafa inteira para
mim.
Meu
dilema era decidir se enchia o copo ou se o completava aos poucos. A
vantagem de colocar uma boa quantidade no copo era que podia ver as
bolinhas subindo até a superfície, enquanto outras já nasciam do fundo,
numa sucessão interminável e maravilhosa. A desvantagem era que, não me
contendo, podia acabar por sorver a bebida em grandes goles — fazendo
com que durasse pouco. E mais guaraná só haveria no próximo sábado.
Foi
por essa época que comecei a tecer a fantasia louca de que, no futuro,
teria um guaraná que não se esgotaria jamais. Eu me via enchendo o copo,
e, depois, bebendo-o sem parcimônia, com exagero, até com fausto. E, ao
repor o copo na mesa, ele se encheria sozinho, automaticamente, de novo,
mais uma vez, sempre — feito mágica. E, da rua, quando viesse o som das
vozes dos manos locutores do carro de propaganda — "Teatro dos Tecidos!
Tecidos e mais tecidos a preços que nunca serão esquecidos..." — eu,
egoísta, imaginava-os passando reto, e ainda esconderia meu guaraná, à
espera de que se afastassem com o carro, levantando poeira pelas ruas
sem calçamento da Engenhoca, em Niterói, onde morávamos.
Muitos
anos depois, ignoro em que andar da sede da TV Globo, no Rio, recebi o
cheque preenchido com a mais alta soma que já havia ganho em toda minha
vida. Tinha 19 anos. Não me recordo, também, se foi Boni ou Borjalo quem
o entregou. Só sei que, quando pus as vistas na quantia ali escrita,
lembrei, no ato, da época da pobreza. Na sequência, lembrei do devaneio
do guaraná que não se acabava mais. Segurei o cheque por uma ponta. As
borbulhas subiam na minha imaginação e estouravam borrifando perfume de
guaraná pelas salas da Globo, pelos corredores.
Não
durou mais de quatro meses a fortuna que mereci por ter vencido a fase
nacional do Festival Internacional da Canção e ter conquistado o
terceiro lugar na classificação final, atrás da Itália e dos Estados
Unidos — que tinha sido representado pelo maestro e compositor Quincy
Jones — e por ter recebido, ainda, um prêmio extra, de revelação do ano.
Em quatro meses, queimei todo o dinheiro. Mas gastei-o consciente de que
comemorava o encerramento da fase da pobreza, que não voltaria jamais.
Não era mais o anônimo promissor talento à procura de uma chance. A
oportunidade chegara e eu me vingava da miséria. E ainda achei barato.
Mais tivesse, mais gastaria na desforra.
Saí
da Globo e fui direto ao banco. Saquei o dinheiro e abri uma conta em
meu nome. A primeira de minha vida. Bolso abarrotado de cédulas, rumei
para a casa de meu irmão mais velho, que também viera morar no Rio de
Janeiro. Convidei-o para
almoçar. Disse-lhe que, daquela vez, eu é que tinha recebido um vale. No
restaurante, tomamos vinho. Do melhor. Comi camarão, mas ele, como
sempre, preferiu frango com macarronada. Depois da conta paga, não me
mexi do lugar. Pedi mais café e mais licor. E mais outro. Estranhamente,
sentia-me como que impossibilitado de sair dali, pois, em minha cabeça,
somente via aquele guaraná na mesa da casa da Engenhoca. Foi aí que pedi
um guaraná. O mano não acreditou e reclamou, dizendo que iria estragar o
gosto do vinho e do licor. Pedi o guaraná. Coloquei primeiro uma pequena
porção. Depois enchi o copo até a beirada. Meu irmão ficou perplexo e
jamais entendeu o motivo do que aconteceu a seguir: eu fiquei olhando
embevecido para as borbulhas que subiam até a superfície e estouravam
espalhando o perfume do refrigerante pelo ar. Chorei.
Não
tomei dele nem um mínimo gole. Na saída, explodi numa gargalhada. O
mano, ao ver que eu não conseguia parar de rir, foi apanhado pelo
chamado "instinto imitativo" e logo não era capaz, também, de se
conter. Rindo, nos
abraçamos e fomos andando. Perguntei: "Você ainda se lembra do Teatro
dos Tecidos?". Nova onda
de gargalhadas. Ele, vermelho, sufocado pelo riso, movia vigorosamente a
cabeça para dizer que sim.