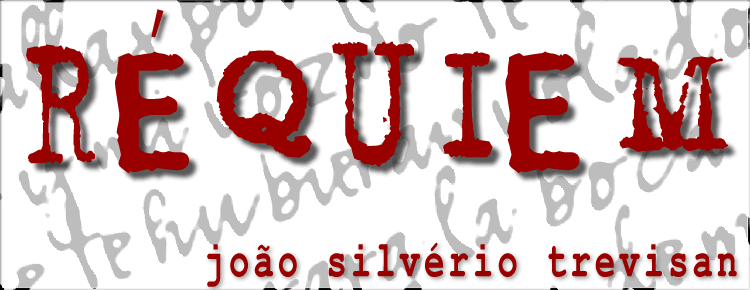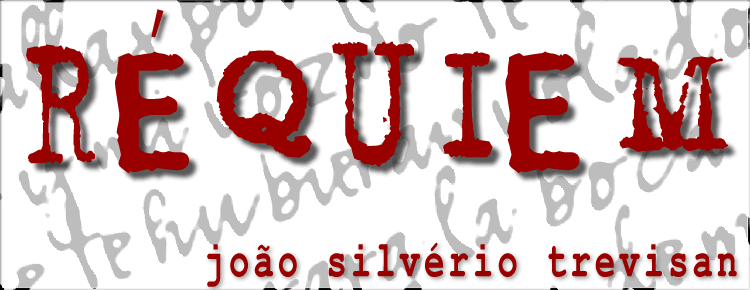
|
Sentado num deles estava o homem, assim. Via televisão, quem sabe que estúpido programa, fumando e pernas esticadas para cima. Ele podia ver pelo vidro que às vezes o homem ria. Em volta, outros caixões todos. Imensos. Tinha um pequeno e branquinho, de anjo, o resto tudo preto, roxo, cruzes, imitações de bronze. As tampas encostadas nas paredes também, mas o homem sentado ali, num caixão imenso vendo televisão e fumando. Ele estava do outro lado da rua olhando e viu o letreiro imenso: Funeraria Buena Muerte. Um outro país. Fazia 43 horas que ele pensava, na mesma coisa. Ainda tinha o jornal debaixo do braço, o jornal de ontem já repassado como uma obsessão. Há muito não chorava, perdera deus sabe onde o dom das lágrimas. Já se preocupara com isso muitas vezes, agora nem ligava mais, aceitara que nunca mais. Sentou-se no banco da praça, os bondes passando carregados de gente que lhe parecia em silêncio, a ele surdo-mudo caminhante à toa. Aquela vez que dera aulas, por três anos. Depois não pôde mais suportar, brigou com a direção, entrando na sala aos berros. E nunca mais dera aula, desacato à autoridade, deveria respeitar mais o país que tão humanitariamente acedera em dar-lhe asilo. Assim era ele, assim for a, inconformado. Agora, já faz quanto tempo. Trabalhara no jornal e aí ficara, minguando, aceitando, domando-se, apenas cumprindo, que a vida o dobrara. As saudades de sua terra tinham se transformado em pequenas visões bobas; depois de tantos anos voltaram atacando por dentro, viraram necessidade mórbida, fixação obsessiva lá, lá, aquela terra que a morte chega sem que eu volte, que sentimental, mas já nem discutia mais, sabia que assim for a, assim era e tinha que ser. Leu outra vez na primeira página: "Vírus desconhecido continua a fazer vítimas", porque agora já não podiam mais esconder, a coisa vinha de longe e o mundo inteiro sabia. Depois: "Estado de calamidade pública: 17o mortos nos dois últimos meses". Era a morte vindo e apodrecendo seu povo, as células dos corpos atrofiando-se com um mal estranho. Já se pedira socorro ao exército americano porque diziam que os militares teriam conhecido aquele mesmo vírus durante a guerra do Vietnã; mas eles silenciaram e agora o Ministro da Saúde protestava na ONU. Sim, sabia ainda o que era estar triste, mesmo que já tivesse ultrapassado as barreiras da tristeza e chegasse a um terreno onde nada mais dói, o desespero quem sabe. Não queria nada mais, apenas voltar, mas também não se fazia perguntas, grandes perguntas sérias sobre segurança, já se esquecera de tudo isso propositadamente. Conseguira. Fazia muito frio, era isso. Porque conhecia esse frio. Durante todos os anos de exílio nunca tinha percebido que o frio de novembro aqui era o mesmo friozinho ardido de junho lá no seu passado, mas esse ano seu corpo entregara-se, sentia-se inevitavelmente entre os fogos de São João, feliz aniversário, batata-doce, bolo de fubá, quentão, a casinha de manjericão e vamos pular a fogueira, dona Joaninha aquela sem dente, há quanto tempo não comia bolo de fubá, que gozado que se lembrasse de tanta coisa agora, tornado vulnerável ao frio de novembro, ou melhor junho, ou tanto faz. Não queria voltar ao apartamento, onde a empregada fazia limpeza duas vezes por semana e era ela por incrível mesmo a única pessoa com quem ele falava, ultimamente. Frio nos pés, não tem mais meia que agüente, ficou horas tentando costurar um buraco até que a empregada viu e fez, tinha que aumentar-lhe o ordenado, mas como? Agora só ia mesmo economizar pra comprar a passagem, não estava certo isso, uma tremenda fantasia de um velho de 57 anos, mais velho do que 70, cada dia com mais medo de se olhar no espelho. Para quem envelhecer? Por que o corpo se deixa derrotar assim? Tentara ginástica, não agüentara, não tinha entusiasmo para ginástica, apenas o passado, então rasgara todas as fotos. A mulher, que coisa, parecia que via Leninha pela primeira vez na fotografia. O filho sobretudo, nem com o filho chorara, com tudo o que aconteceu. Depois separara-se, como era duro lembrar aqueles tempos difíceis; então acabou com as fotos, quase perdera toda a liderança de tantos anos de luta, essa história de integridade moral, que integridade nem nada. Não conseguiu ver o filme, saiu. Olhou o relógio, viu por acaso os pêlos já esbranquiçados do braço, esqueceu as horas por causa dos pêlos que falavam de anos e anos e tudo para quê. Nos primeiros cinco anos as pessoas vinham procurá-lo, gente do mundo todo, confabulando, conspirando, pecados do mundo inteiro contra todos os sistemas batendo à sua porta e ele servindo cafezinho, jantares, almoços, repórteres, a idéia do livro largado no meio, as pessoas sumindo aos poucos, seu nome sendo esquecido, esquecido. E o friozinho ardido lhe lembrava tudo, outra vez, mais e mais. Onde estaria Leninha? E os companheiros todos do partido? Sabia que o Henrique estava na Suécia, mas isso já fazia cinco anos, Osmar Santeiro em Cuba mas já não tinha certeza de nada. Ele apodrecera, mesmo brigando contra a vida cada dia, foi isso o que sentiu mas não teve compaixão de si mesmo, não adiantava e nem sentia pra que compadecer-se, ele que vivera muito. Escreveu no saquinho de pipoca: Não adianta mesmo. E reviu o panorama de toda melancolia, amargura, angústia, angústia que já nem mais tinha, de mais de 12 anos de exílio onde tudo tinha se desgastado como sabão barato. Se eu não tivesse brigado na Universidade, mas como é que eu não vou brigar? Aquele artigo na revista proibido, então isso aqui não é o que vocês chamam uma democracia, como o presidente diz três vezes por dia antes de comer? Democracia social, diziam eles, mas limpa, moralizada, nada dessas influências burguesas corrompendo a cultura e a alma nacionais. Seu filho não chegara a saber disso, não saberia como ele teria reagido se tivesse sabido. Aproveitaram muito bem o caso e fizeram o escândalo pelo jornal. Manifestos, protestos. As senhoras dos Ministros reunidas com o Presidente para protestar contra a podridão moral invadindo a Universidade, apodrecendo justo o coração cultural do país. A pressão foi forte, nunca pensara quão indesejável era ali, para os grupos de oposição. E ganharam. Limpeza geral, ele e outros mais. Ou cala o bico ou escolhe outro país. Sim, isso eu ainda sinto, um pouquinho de amor. Que teriam feito do menino, um grande futuro de economista pela frente, estaria ainda estudando meu melhor aluno, o mais querido? Querido demais, não, que ele não tinha sido culpado. Corruptor de menores, assim disseram. Juan, Juan, Juan Manuel. Ele disse três vezes o nome do rapaz. Caminhou furiosamente. Nunca tivera coragem suficiente. Passou pela igreja, entrou furiosamente. Um vazamento àquela hora, o órgão. Sentou. O cheiro de igreja tão antigo, o órgão que lhe pareceu implacável. Meu filho. Pensou no filho, foi o que pensou. As pessoas cochichando, a noiva tropeçou no vestido, e o telefonema, ninguém sabia como lhe dizer. Procurou um jeito de recostar a cabeça. E aí ouviu os tiros, meu menino tome cuidado. Já era tarde. As metralhadoras tinham matado mais um guerrilheiro. Levantou-se aí, porque o órgão lhe parecia implacável demais. E disse: Oyeme Lupe que ya me voy. A índia não disse nada, apertou-lhe a mão com força na despedida. Apanhou sua maleta, o jornal ainda debaixo do braço. Ia para ali mesmo, voltava para lá onde tudo tinha começado. Decidira, sem nunca saber motivos. *** De navio, de trem, um trecho de ônibus, depois de barcaça e trem outra vez, e chegou. Fugira dali uma vez, ali estava de novo. Não teve espaço para comover-se, apenas reconquistava o que deveria ter feito há muito tempo, portanto nenhum motivo para lágrimas, mesmo que tivesse demorado tanto. Deslizava para o começo, o sol ardendo lá em cima o começo do verão tropical. Comeu sanduíche de mortadela, peixe, carne seca, tomou caipirinha uma vez, sabores de antigamente devorados. Fugira como o homem mais perigoso ao regime, voltava e já nem lembravam seu nome, o olvido tem suas delícias pensou querendo encontrar o bom-humor. Quando disse para onde ia, ninguém prestava atenção no começo. Depois, à medida que chegava mais perto, o nome espantava: Mas doutor, Guarassunga. Sim, tenho família lá, preciso saber o que acontece com eles. Mas doutor, os vírus começaram justo lá, perigoso ir doutor. Sim, algo estranho acontecia no seu país, o ar estava inquieto, às vezes silêncio demais. O último trecho do caminho ele precisou fazer de caminhão que carregava víveres para os flagelados da peste. Sentou-se nas sacas de arroz e feijão, sentiu o cheiro dos depósitos, o mofo, sua própria língua lhe soava engraçada. Já não sentia nada, apenas a verdade de estar ali e nada de supérfluo. O sol lhe queimava, enquanto via as gentes indo embora, carroças, burros, caminhantes cheios de trouxas nas costas e caminhões do exército levantando poeira. Poeira cheia de vírus, pensou. Justamente em Guarassunga, que coisa mais estranha, onde eu vinha tanto, as praias mais bonitas que conheço. Já não sinto nada, que desde pequeno, aquela noite em que levantei e ia defender minha mãe dos pernilongos brigando com o travesseiro, e ela riu até amanhecer; me passava a mão nas orelhas, o carinho mais grande que me fazia, até que as orelhas ficavam vermelhinhas vermelhinhas. Depois, o dia que me pegou na praia fazendo besteira com o moleque, por muito tempo tive vergonha de voltar a Guarassunga, por causa disse e da surra. Olhava os matinhos mirrados, sinal primeiro de que o mar chegava, lembrou de gabiroba, quando ia pro mato catar gabiroba, e os cupins por que será que existem os cupins, costumava pensar, e fazem essas construções que nem grandes arquitetos disse uma vez a professora dona Matilde. Mas havia silêncio demais na areia que já começava a esbranquecer, branca com cheiro de puro sal no ar, e na curva seguinte o mar, aquela imensidão que o fazia tremer de excitação quando menino bobo que nascera na serra. E olhou então, o mar apodrecido trazendo vírus estranhos, imaginou os peixes mortos, grandes baleias aterrissando nas praias brancas de Guarassunga, mas nada, ali estava apenas o antigo mar verde tão imenso e o vento de brisa salgada. Limpou a cara. Não havia nada além do mar, nenhuma magia para lá das lembranças. Depois, o pai costumava vir no fordeco do tio, ainda não tinha essas estradas largas de agora, e tivemos que parar num rancho do caminho por causa da tempestade. Pela primeira vez passar a noite em claro como gente grande, esperando o tempo melhorar com o barulho do mar já perto e eu não podendo esperar, queria tudo verde, verde. Depois, o tio me desafiando não seja mariquinha moleque, vamos ver se tem coragem. E eu fui, com o medo engasgado na garganta me meti na água, nada que nada e mais longe e seja homem, até que o tio me pegou eu já não agüentava mais e nunca senti tão vivamente o braço de alguém, quase prolongação de mim, a carne dele me salvando. Assim fui sempre, sem nunca estar tranqüilo com ninguém, o inferno de vida com Leninha, de sentir-se apenas metade, queria mais, muito mais pra lá, e nunca tentava e nada, até que eu desisti. É o que se pode chamar um inferno mesmo. Guarassunga em silêncio, despertando-o de repente aquele bloco de casas velhas, ele reconhecia ainda. Apenas um que outro doutor ou enfermeira atravessando as ruas desertas, em Guarassunga onde antes só tinha mesmo o farmacêutico. A padaria, não estava mais lá a padaria. No lugar, uma lanchonete. Propagandas nas portas, aquele imenso anúncio de coca-cola para o verão tropical, as casas abertas, cadeiras caídas na rua e até um colchão metade queimado, com cachorros passando magrelas. Zunia o vento entretanto, até que o motorista falou: Fim de linha, doutor. Desceu sentindo as mesmas pedras, as mesmas casas antigas de sua infância. Os nomes de rua não tinham mudado, portanto foi direto ao hotel. E já tinha chegado definitivamente ao final, onde se lia PERIGO por toda parte, mas caminhando como sempre fizera em Guarassunga, quem sabe a paz. Não tinha ninguém na casa, porque subiu a escada depois da porta escancarada e o sininho ainda tocou mas ninguém atendeu. O balcão estava ali, 40 anos mais velho, muita poeira, um cheiro podre no ar, flores secas num vaso caído. Entrou no número 18, do corredor imensamente familiar, vazio e então o primeiro reboliço subindo-lhe pelo estômago, engoliu em seco apenas excitado, prometendo-se a paz de apenas estar ali afinal, o quer era tudo. Não tinha mais cama. Encontrou um colchão velho, arranjou-o no chão como pôde, colocou o calção e foi para a praia sem se olhar. Ficou horas no sol. Acordou com um pescador espantado olhando-o magro e queimado, as mãos ásperas, talvez tivesse sido algum molequinho que conheci tanto tempo atrás. Conseguiu pescar um peixe sem nome para o jantar. Depois, passou quase uma semana sem pensar. Horas sentado na janela sentindo a pele enrijecer-se de sol e vendo os restos da tropa levantando barulho pelo calçamento da rua e os últimos pobres do seu povo indo embora, abandonando porque não perdiam nem ganhavam nada, nesse ciclo a que sobreviviam tenazes. Sentia-se mais forte do que a paisagem, porque aceitara, ali do lado de trás, espiando de for a, esperando apenas sem ter medo de nada. Uma noite acordou com grande ruído dentro da casa. Vozes nervosas, estrondosamente abriu-se a porta do seu quarto. Ele estava sentado no colchão, viu o vulto aterrorizado do soldado com as panelas na mão. A cela, sim, lembrou, algo assim, quando? que já lhe fraquejava a memória, quando? como se não estivesse ali ou nunca tivesse saído dali, o mesmo soldado ou um outro, vim lhe buscar. Mas não, apenas recompôs-se o homem, retomou o ar militar. — É pra ninguém mais estar aqui. Lembrou-se de algo, lembrava-se o tempo todo, olhando apenas. — Ordem do governo, ninguém mais aqui. Vim de longe, foi dizendo, porque gosto desta cadeia, mas não sabia como, parte do sonho ainda, porque o soldado: — Ficou louco agora? Cai fora, eu já disse. Não se moveu. Estava ali, indefinidamente para onde chegara. — Ei, não me escuta não? — Sim, a mesma cela, a comida podre, o medo dos choques, o cheiro de bosta, mas já não sentiu medo. Assim gritou sem mesmo tentar: Sai você daqui, seu soldadinho de merda. O soldado soltou as panelas, barulho infinito no silêncio da noite, a rolar. E aprumando-se na pose do uniforme superior, o soldado magro: — Olha aqui, seu filho da puta, sai daqui e de bico calado, que eu só tou levando o que eles deixaram, não tou roubando não. Olha bem pra minha cara e tenha mais respeito. Te digo pela última vez, eu sou a autoridade. Começou a rir porque era ridículo para ele que existisse ali mesmo um soldado na escuridão e a autoridade tanto tempo degustada, a vida inteira engolida como remédio ruim. Enquanto assim ria, recebeu por três vezes os disparos do revólver, e eram para ele os sons do órgão, ou do mar, lembrou que o molestavam como repercutindo dentro da carne, apodrecendo, foi tudo o que recordou de Guarassunga para onde viera, e já nada mais tinha a perder.
João Silvério Trevisan nasceu em 1944, na cidade de Ribeirão Bonito, São Paulo. É escritor de literatura ficcional e ensaística, dramaturgo, tradutor, jornalista, coordenador de oficinas literárias, roteirista e diretor de cinema. Estudou Filosofia. Recebeu inúmeros prêmios em teatro, cinema e literatura, dentre os quais o Jabuti (três vezes) e o APCA (duas vezes). Tem obras traduzidas para o inglês, o alemão e o espanhol. Escreve para jornais e revistas de todo o País e do exterior. |