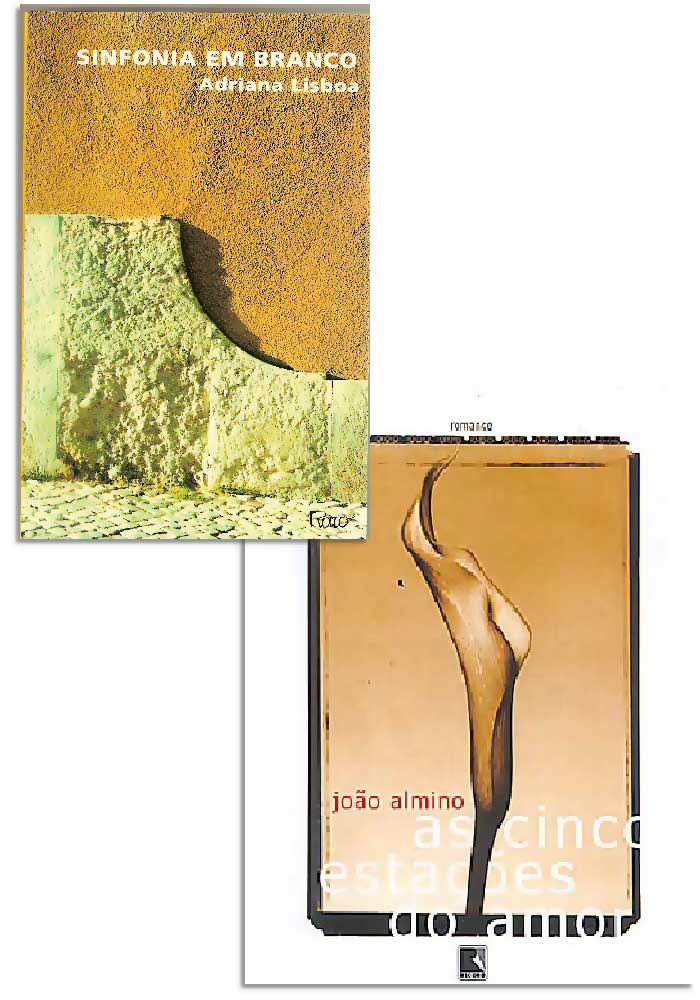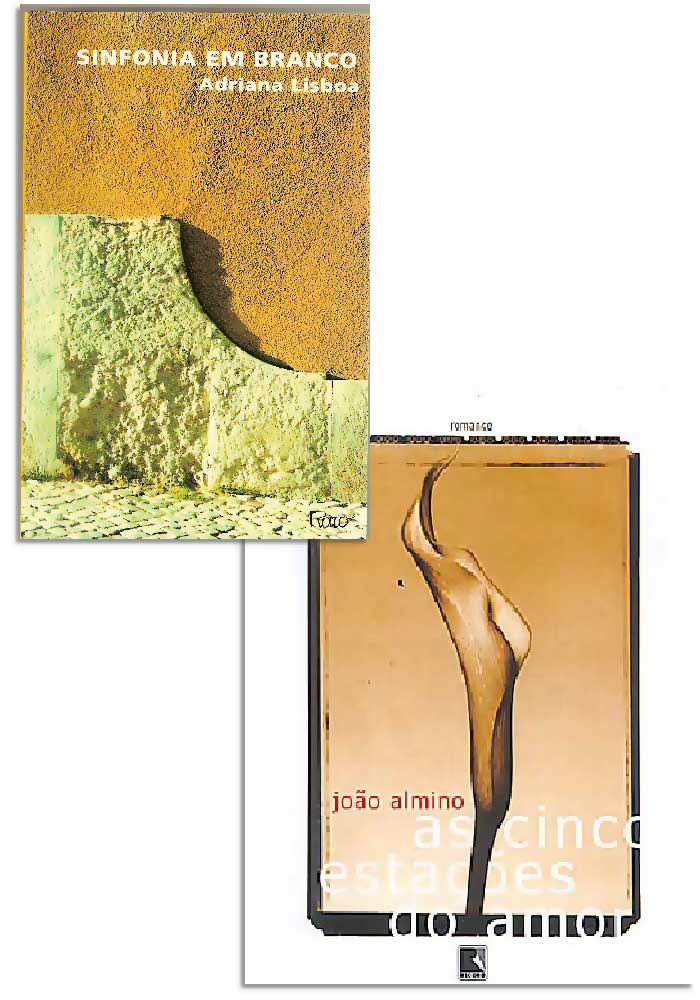"Tendo, por fim, retornado à sua moradia-mundo, eis que o nômade, errante, se torna caseiro. Por que, desde há tanto tempo diminuído, havia ele abandonado esse palácio por habitações tão pobres?"
Michel Serres
Já não é de hoje que se multiplicam até a exaustão os estudos e narrativas sobre as cidades. Proliferam seminários, instalações e intervenções sobre o espaço urbano. Nada de surpreendente, até necessário, desde que a cidade se tornou, na modernidade, seu espaço privilegiado. Mas que fim levou a casa?
Se nos centramos na literatura brasileira dos últimos trinta anos, a casa ainda aparece com força, numa grande tradição brasileira dos romances dilacerados de decadência de famílias patriarcais, de Fogo Morto de José Lins do Rego, Menina Morta, de Cornelio Penna, Crônica da Casa Assassinada de Lúcio Cardoso, atualizados mais recentemente, sobretudo em obras de Raduan Nassar, Milton Hatoun e Francisco Dantas, a que já nos dedicamos em outro momento (LOPES, 1999).
Passando para um universo mais urbano e contemporâneo, ecoando talvez as narrativas vitoriosas, em termos de crítica e público, que se centram, sobretudo, no espaço público, nas cidades em tensão, violentas, parece que o espaço privado, a casa, se vê como lugar de passagem para o trabalho. A casa fica cada vez mais impessoal, povoada pela televisão, pela solidão e violência. Nem mais como refúgio parece a casa exercer um fascínio; talvez, até mais prisão.
A casa, que já rendeu grandes romances e filmes, recua como fonte de devaneio e beleza. O que restaria da casa? Muito se falou de uma narrativa feminina que resgata a casa como espaço de resistência, mundo afetivo em oposição ao mundo masculino do trabalho, impessoal, capitalista. Mas, no pós-feminismo, a quem pode interessar, hoje, os silêncios da casa? Quem pode se enriquecer com seus cantos, cada vez mais iluminados e pouco misteriosos?
Sem pretender ser exaustivo no delineamento dessa linhagem que retrata a casa marcada pela delicadeza e pela leveza, penso em dois romances, particularmente, que, na sua discrição, parecem falar de uma falta nos nossos imaginários, mas talvez sejam tão impactantes, na sua modéstia e despretensão, na beleza que emerge das pequenas situações, personagens frágeis, banais, de seus cotidianos: Sinfonia em Branco de Adriana Lisboa e Cinco Estações do Amor de João Almino.
Antes de falarmos em Sinfonia em Branco, relemos um outro ancestral seu, a novela Buriti de Guimarães Rosa, por ser um romance dissonante em meios aos romances de decadência de famílias patriarcias já mencionados. Nessa linhagem, a passagem do mundo rural para o urbano, talvez pudéssemos dizer da modernidade para a pós-modernidade, faz-se, não sob a égide da catástrofe, mas da leveza. A casa, com pouquíssimas referências, descrições, é fantasmal, ou melhor, uma casa do ar, frágil. Diferente de outras casas dos romances de decadência brasileiros que se desmantelam em imagens líquidas, como num naufrágio, aqui, o risco é o tempo mítico, da natureza (dia e noite, estações) e da vida rural, onde o movimento incessante do monjolo é a imagem maior de um tempo constante, mas que também remete à abundância de água próxima da casa, como se a terra ficasse mais frágil, sobre um lençol de água subterrâneo1 (141). A água fala menos da história e mais do mito: "o Buriti Bom era um belo poço parado. Ali nada podia acontecer, a não ser a lenda" (140).
No entanto, diante da aparente imutabilidade, o tempo se mostra incisiva e suavemente, não sendo à toa que o romance se constrói a partir da visão dos estrangeiros Miguel e Lala. E na incorporação desses à família, o tempo desempenha um papel fundamental, na medida em que o fascínio exercido pela casa não implica adesão a um tempo mítico, como, por exemplo, para Miguel: "querer-bem ao Buriti Bom, aceitar aquela paz espessa. A saudade se formando. Tempo do Buriti Bom se passava" (139). A casa emerge em meio aos movimentos de idas e chegadas, fazendo-se passagem. A primeira moldura da narrativa se faz na longa volta de Miguel à fazenda do Buriti Bom, que inicia e encerra o romance, marcada por uma tensão típica do melancólico entre o desejo e a impossibilidade de esquecer.
A volta não se encerra com o romance. Longe de simples nostalgia romântica2 da casa, da origem, aqui temos um estrangeiro que encontra sua família, seu lugar, não na sua verdadeira casa, mas no espaço do outro. Tudo que temos de Miguel, à medida que ele se aproxima de Buriti Bom, são os flashes de sua primeira visita à fazenda. Viagem pelos fragmentos do tempo, sem nenhuma linearidade, alternando movimentos em diferentes momentos do passado e o presente em viagem. A casa é envolvida na memória, como a segunda viagem de Miguel se mescla à sua primeira viagem. A primeira viagem já era volta. O passado emerge no presente. Uma vida toda se faz breve momento. "Como a infância ou a velhice — tão pegadas a um país do medo" (91). Mas, mais que o medo, é a leveza do desconhecido que nos guia, leitor e personagens. Em meio à noite, no caminho incerto de volta ao Buriti Bom, ao reencontro com Glorinha, até o dia em que se processa o acerto de contas de Miguel.
"Então, em fim de vencer e ganhar o passado no presente, o que ele se socorrera de aprender era a precisão de transformar o poder do sertão — em seu coração mesmo e entendimento" (105). O aprendizado não termina no fim do romance, faz-se longo pela vida, com tantas noites e dias a se sucederem. Miguel é um viajante permanente, marcado pela mesma possibilidade de leveza que se vislumbra na redenção da fazenda, configurada no encanto pelas estrelas. A melancolia do estrangeiro aflora na medida do recuperar do tempo, desdobra-se e se redime no ato de viajar, numa espera da alegria, diferente da "lentidão, peso (que) fazem parte dos atributos mais constantes do personagem melancólico, quando ele não é destinado à imobilidade completa" (STAROBINSKI, 1989, 19).
Miguel se pergunta: "Posso querer viver longe da alegria?". E Maria da Glória cristaliza essa alegria, que vem do passado. "Quando encontrei Maria da Glória, aqui, foi como se terminasse, de repente, uma grande saudade, que eu não sabia que sentia" (148). A alegria é, ao mesmo tempo, falta e dor. No retorno ao Buriti Bom, Miguel nunca chega de todo. E o Buriti Bom seria ainda apenas o meio do caminho para Miguel, início do sertão, onde ele nasceu. A amplitude do sertão só dá a dimensão da distância do tempo e da extensão da viagem. Viagem que só acaba quando acabamos? Não importa. O que importa é "aprender a vida" (258), é a estrada para o Buriti Bom, "uma frescura no ar, o sim, a água, que é a paz dessas terras. E o Buriti Bom enviava uma saudade, desistia do mistério. O Buriti Bom era Maria da Glória, dona Lalinha" (257).
Se Miguel é aquele que sempre está voltando, Lalinha, a nora de Iô Liodoro, serve como contraponto a Miguel, é aquela que passa a maior parte da novela na fazenda, "fosse prisioneira que fosse. Flor de jardim, flor em vaso" (150). Seu próprio quarto, com os móveis e confortos transpostos da cidade, tem um jardim perto da janela, em oposição ao "para além, escuro, o laranjal, que desconhecidos pássaros freqüentavam" (160), à amplitude da noite e do sertão. Lalinha é uma figura de sonho, de beleza irreal, que todos adoram como fantasia de esposa de Irvino, mas para quem a fantasia como sua teatralidade se faz central na sua identidade. : "Para eles, eu sou apenas o que não sou mais: a mulher de um marido que não tenho..." (163).
A estadia de Lala na fazenda marca uma passagem do tempo. Lala deseja voltar "de alma idosa, como um objeto sob a chuva" (195). O aprendizado no/do tempo a leva a uma outra identidade, forçando-a primeiro a descansar, depois a pertencer ao lugar num processo de assimilação temporal e de integração na economia dos desejos que culmina nos encontros noturnos com Liodoro, através de quem Lala parece amar todo o Buriti, o lugar e suas pessoas. Em meio a um jogo de leveza e erotismo, Lala se renova no Buriti Bom. Ele lhe dá um novo olhar: "Ganhara um perceber novo de si mesma, uma indiferença forte e sã?" (242). A volta de Lala se dá antes mesmo de sua partida do Buriti Bom, como um despertar. "E a vida inteira parecia ser assim, apenas assim, não mais que assim: um seguido despertar, de concêntricos sonhos — de um sonho, de dentro de outro sonho, de dentro de outro sonho... Até a um fim?" (244). Viagem sem fim. Suave labirinto. Teatro da leveza. Por fim, Lala se vê de novo estrangeira, deixando a fazenda, mas sem culpa de não ser mais a outra, a esposa de Irvino, além de todo desejo, toda necessidade. "Um nada, um momento, uma paz. (...) Sua alegria era pura, era enorme. Gostaria de dançar, de rir a toa" (250/1). Conquista da leveza.
Não se trata mais em Buriti de decadência. Iô Liodoro é o homem mais rico das redondezas, embora se apresente mais como figura de respeito do que de poder. Nenhuma referência a poder político, contudo, é feita, como se a região em que se passa a novela fosse uma terra sem grandes conflitos. Patriarca sem patriarcalismo poderia ser a síntese de Iô Liodoro, "mais que um dono e menos que um hóspede" (162), uma onipresença distante, sombra da casa, allheio a sua vida cotidiana. A unidade do masculino representada pelo pai se multiplica no feminino, nas três mulheres da fazenda, cada uma representando um caminho diferente, mas todas enunciadoras da dispersão e da leveza: a vitalidade telúrica e diurna de Glorinha, a teatralidade de Lalinha e o ascetismo melancólico de Maria Behu.
Mesmo a morte de Maria Behu nada tem da dramaticidade da morte de Nina de A Crônica da Casa Assassinada, de Lucio Cardoso, da loucura de Rosalina de Ópera dos Mortos, de Autran Dourado, ou da solidão de Carlota de Menina Morta, de Cornelio Penna. Embora não lhe falte uma dimensão teatral, a morte de Maria Behu é uma transcendência, uma liberação representada pela cura do chefe Ezequiel, na mesma noite de sua morte, como também o erotismo de Glória e Lalinha quebra sutilmente as cadeias do patriarcalismo. Longe de ser apenas "uma criatura singela" (135), como as silenciosas tias do interior, como a prima Biela de Uma Vida em Segredo, de Autran Dourado, Maria Behu encarna, aos olhos de Miguel, uma teatralidade melancólica, marcada pela dimensão do impossível: "Quem sabe quisesse mais do que sentia e podia, fugia do que tinha de ser" (136).
Por fim, dos três filhos de Liodoro, Glória é a única que fica na casa, apresenta-se sob a marca tradicional do feminino. Pela sua liberdade sensual e sexual, prerrogativa do homem sob o patriarcalismo, Gloria desfaz uma marca tradicional do feminino, tornando-se, de fato, a herdeira de Liodoro, e não seus irmãos que vivem fora do Buriti Bom.
A divisão que Liodoro estabelece entre a contenção de viúvo e pai dentro da casa e o amante de várias mulheres fora de casa é quebrada com a vinda da nora Lalinha, que lenta e ludicamente introduz o desejo no centro da casa, na figura de Liodoro, diluindo seu poder. O desejo quebra vínculos familiares, a prisão de contenções constrói uma outra família, sem familialismo, polimorfa, não-patriarcal, como a relação entre Liodoro e sua nora Lala (marido-esposa, pai-filha), entre Lala e sua cunhada Glorinha (irmãs, amantes, mãe-filha), entre Glorinha e Gualberto, o amigo e vizinho, até a fraternidade que une Gualberto e Miguel ou a associação que este faz de Maria Behu com sua mãe. Dispersão que se amplia no final pela expectativa da chegada de Miguel e seu casamento com Glorinha. Dispersão do masculino e do feminino.
A quebra do ritual patriarcal por uma ludicidade erótica, plena de leveza e indistinção tem como umo marco decisiva a morte de Maria Behu. Sua morte é o último ato na transfomação da casa de prisão patriarcal em espaço de leveza, não de destruição e decadência; de passagem da melancolia à recusa e redenção do mito. "A tristeza por Maria Behu produzia uma espécie de liberdade. As pessoas estavam mais unidas. As pessoas estavam mais unidas, e contudo mais separadas" (247/8). A imagem da vida como viagem suplanta todo aprisionamento mítico na vida ou na morte.
A casa e Liodoro parecem trocar características, isomorficamente, como os apresenta Gualberto a Miguel. Num primeiro momento, ambos são marcados pelo isolamento e hieratismo, ordem, inteireza e imobilidade: a "Casa", "palácio de grande lugar" (217). A própria imagem do Buriti Grande se associa com a figura de Liodoro e por extensão à casa, dominando as terras como Liodoro, fazenda e se amplia no decorrer do romance, até assumir, readquirir a dimensão da leveza dos buritis. "O buriti? Um grande verde pássaro, fortes vezes. Os buritis estacados, mas onde os ventos se semeiam" (105). O Buriti-Grande é mais do que sobrevivente de outros tempos, de um mundo arcaico, aquático e inumano. Como a figura antiga de Liodoro, ele é síntese dos mistérios do passado que emergem no presente, resume uma ambiguidade material, outrora, divisor entre a terra e a água; no presente, entre a terra e o ar, não só eixo para os volteios de uma borboleta, como Liodoro é um suporte para o espetáculo do feminino e da beleza, mas intermediário, que faz do passado arcaico (água) não legitimação da autoridade patriarcal pelo mito (hieratismo do tronco), mas oferece um presente em leveza (ar), "uma liberdade" (258).
Pela sua estrutura axial, como árvore, o buriti centra suas raízes na terra, absorve as águas arcaicas do Brejão e projeta suas folhas para o mundo aéreo, mundo da dispersão, para além da autoridade e do mito. O evanescimento da matéria também marca a casa, na descrição parca de seu espaço. O desgaste da casa constrói uma ruína quase invisível: "uma grande casa, uma fortaleza, sumida no não-ser" (154), não mais espaço onde "as pessoas envelheceriam, malogradas, incompletas, como cravadas borboletas" (199). Uma casa, ao mesmo tempo material e espiritual: "A Casa — vagarosa, protegida assim, Deus entrava pelas frinchas" (221). "A vida não tem passado. Toda hora o barro se refaz. Deus ensina" (258).
Sinfonia em Branco parece também oscilar entre a casa na fazenda, num mundo em que o patriarcalismo se eclipsa, como em Buriti de Guimarães Rosa, mas o afastamento do mundo rural parece maior. Não se trata tanto da morte da casa, como da morte do pai-patriarca. As idas e vindas no tempo compõem um quadro, para além da associação do quadro de Whistler que dá nome ao livro com uma das protagonistas, para falar desses personagens frágeis, que, no entanto, resistem e sobrevivem diante da violência do mundo. Se em Crônica da Casa Assassinada, Lúcio Cardoso usa a imagem de "um câncer sobre um canteiro de violetas" para definir seu romance maior, Adriana Lisboa parece construir o núcleo poético de seu romance a partir da metáfora da borboleta voando sobre um abismo: "Na grande pedreira que encimava o morro mais próximo, uma borboleta tardia abriu suas asas multicoloridas e lançou-se no abismo" (26). Nada de trágico, épico, mas há um certo tom elevado, sério, que tira beleza do pequeno.
Todo o romance encena a volta de Maria Inês para a casa onde nascera e a espera dos que retornaram ou se encontraram nela, sua irmã Clarice e o primeiro amante de Maria Inês, Tomás. A volta à casa não é a volta do derrotado frente ao mundo, do que não tem escolha senão sobreviver na sua própria mediocridade, mas de uma percepção serena dos seus limites. Nem angústia, nem êxtase, mas contemplar tanto o passado como o futuro sem temores maiores. Como acontece com Tomás, filho desencantado de esquerdistas, jovem promissor que acaba como pintor de província. "Não era um homem feliz. Nem infeliz. Sentia-se equilibrado [ ...] Abdicara de alguns territórios. Desistira da fantasia de um império. Reinava apenas sobre si mesmo e sobre aquele casebre esquecido no meio de lavouras de importância nenhuma e estradas de terra que viravam poeira na seca e viravam lama na estação das chuvas e não tinham o hábito de conduzir ambições [...] Seu pensamento era tão pequeno. Tão pequeno. Do tamanho de um gesto de perfume que uma mulher largasse no ar" (11) Todo seu corpo parece discreto, o sujeito se desfaz sem se destacar, na busca de um "pequeno silêncio", que não se confunde com o proibido, como nas paisagens com "quase sempre uma estrada que não levava a lugar nenhum" (13) que faz para seus clientes de classe média interiorana, "quadros sem ambição — paisagens despidas de qualquer verve . Naturezas–mortas mortas. Abstrações sem sentido e sem desejo de constituir sentido. Retratos opacos" (23).
Em meio a um mundo de excessos e atordoamentos, de uma arte ruidosa, grandioloqüente, impactante, em que a desmesura é apenas mais um elemento de marketing, aqui temos uma arte da sugestão, do recolhimento, de modesta ausência de novidades. Mesmo a sobrecarga dramática de revelações e ações, sobretudo no fim, como em Cinco Estações do Amor de João Almino, não é uma forma de arrumar conclusões, soluções, esclarecimentos; parece mais um leve tremor no tempo que se estende e apequena estórias e personagens. Não se trata de indiferença, mas uma espécie de olhar enviesado, suspenso. Resta ainda um mistério, não daquilo que era proibido, sufocado, mas do tempo, dos "anos [que] compunham sedimentos e aplainavam ousadia" (22). A chegada da velhice é encarada no mote — o tempo é imóvel, mas as criaturas passam, ou ainda na variante: o tempo é imovel, mas as criaturas (os objetos, e as palavras) passam.
O branco do título não diz tanto só da assepsia do apartamento de Maria Inês e João Miguel, mas de sutis variações sobre o mesmo, como num quadro abstrato feito por uma mesma cor em vários tons. Para Tomás, havia o quadro de Whistler antes de conhecer Maria Inês. Quando a conhece, é uma mistura de arte e amor. Maria Inês o deixa, mas sua lembrança fica como um quadro, lembrança de um amor intenso, forte, irreal, por mais real que tivesse sido, que demora a ser apaziguada. Amor mais intenso na lembrança, que na realidade, a ponto de Tomás enamorar-se um pouco do sofrimento diante de um amor tão absoluto "porque às vezes o amor se alimenta de sua improbabilidade" (108). Não se trata tanto para Tomás de "virar tudo ao avesso para conseguir sobreviver à perda de uma mulher" (23), mas "apenas uma vida fluida como um rio sem cachoeiras" (27). Tudo fica mais modesto. "Um dia, o esquecimento. Um dia, o futuro. Uma dia, a morte" (23).
Também Clarice passara a ter "um sorriso sem mistérios, ao pensar que afinal acabara sobrevivendo a si mesma" (23). "Clarice sem dissimulações" (24) volta à casa, vende as terras, (25) não para voltar ao início, nem dar uma última satisfação à mãe, como uma necessidade de raiz, porto seguro, autenticidade. Depois de tanta dor vivida, a volta é um gesto afetivo, ser uma vez mais criança, não para esquecer, mas para trazer mais leve a dor. Os quarenta e oito anos de Clarice "não eram uma idade como outra qualquer. Requeriam silêncio" (134). "Não havia mais nada a ser descoberto, nenhuma revelação? Clarice não se importava. Estava apenas esperando a própria espera" (210).
O tempo se esfacela. Os medos e amores de trinta anos atrás são uma ferida não de todo cicatrizada, a qualquer gesto, parece se abrir e sangrar. "Por quantos caminhos bifurcavam-se os destinos? Quantas fantasias tecidas com delicadeza de filigranas viam-se abortadas? Quantas surpresas inchavam como sombras por trás de cada passo dado? (p. 28). O que está em jogo na espera de Tomás, de Clarice por Maria Inês? Acerto de contas? Dizer ainda o quê?
Repetimos. Todo o romance, uma viagem pelo espaço e pelo tempo, "aquela noite seria a mais longa da história" (80). A viagem para Maria Inês começa com despojamento. "Melhor era ser menos, apequenar-se, ser o mínimo possível e reivindicar o silêncio, a nudez e a liberdade. Melhor era ter as mãos vazias" (111). No caminho, sentia "uma delicada solidão, metade febre e metade amor, onde vingavam suas melhores dúvidas. Depois de dezessete anos" (126).
Também Tomás, no desejo de "tornar-se pequeno (o menor possível)" (129), "ao longo dos anos [...] aprendera as vantagens de carregar consigo poucas coisas — poucos livros, poucas roupas, poucas amizades e poucas memórias. Precisava exercitar-se tentando a qualquer custo deixar do lado de fora de sua vida aquilo que não lhe parecia indispensável. A história de Maria Inês, por exemplo" (156), delírio que demorara 8 anos para se apagar e se apagara (186). A viagem de Tomás é o encontro com a serenidade: "talvez Tomás já tivesse envelhecido, talvez já tivesse atingido aquela espécie de planalto onde vão se extinguindo quaisquer formações geográficas mais intensas, talvez já pudesse apenas testemunhar a paisagem com seus olhos transparentes e pensar em tudo como passado. Tudo. Ou quase tudo" (130). A serenidade não se apresenta como mera vontade, nem o deixar-se à deriva (HEIDEGGER, s.d., 34/5), mas associada ao aguardar, não como "consolo" (idem, 36), mas como uma forma de "sobriedade" (idem, 60). Sem ter um objeto, aguardar por algo sem saber o que é um "aventurar-se no próprio aberto" (idem, 43), uma libertação.
Ainda que distante, a fazenda permanece como "epicentro da vida e dos sonhos de Maria Inês" (40), mesmo após 10 anos sem pisar ali. A casa de fazenda aparece sem riquezas, nem muito grande, nem muito pequena. Nem muito velha, nem muito nova. A casa de quando nos encontramos no meio do caminho, nem na infância, nem na velhice, nem no fim, nem no inicio. Naquele meio que urge passar, depois de sonhos realizados ou não, na calmaria, na ausência das paixões, apenas a realidade suave e nua, cruel e bela. "As coisas pareciam menos devastadoras, depois de vistas de perto. Perdiam o sagrado, ficavam comuns, cotidianas. Reduziam aquela distância entre elas mesmas e a idéia delas" (208) No encontro dos personagens na velha casa, "todas as coisas estavam desembocando naquele lugar naquele momento. Todos os anos vividos, todas as insuficiências desses anos e tudo o que neles havia sido em demasia. Todas os perigos, todas as promessas, todo o amor que amadurecera em indiferença e toda a estrutura que sobrevivera livre de ornamentos" (209). "As pessoas mudam, embora o significado que um dia tiveram não mude" (213). O que fica não é só "a memória do corpo" (218), mas "alguma presença delicada ali: a alma do mundo" (118).
A volta para casa é um gesto simples, banal, para além de toda mágoa, rancor, como se na velhice fosse possível a redescoberta de uma outra infância, apesar de toda lembrança, a aposta em aberto, o horizonte das coisas concretas, a alegria que aceita a vida sem restrições, a serenidade, não o apaziguamento, indiferença, mas a espera sem saber o quê, sem motivo. Mesmo a morte de Otacília se traduz como uma última casa:
"Otacília lanchou com as duas filhas.
Deu boa-tarde ao marido, quando ele chegou, e perguntou como havia sido a reunião na cooperativa, mas quando ele terminou de responder ela já não se lembrava mais do que havia perguntado.
Colocou duas gotas do seu precioso Chanel no. 5, uma atrás de cada orelha, antes de se deitar para descansar novamente.
Quando aquela tranqüilidade inédita penetrou no quarto, semi-iluminado por um abajur fraco, ela soube que estava morrendo. Ouviu as vozes das filhas conversando, no quarto ao lado, o quarto de Maria Inês. Depois ouviu um pouco menos, e sentiu uma vertigem que a fez pensar num navio em alto-mar em meio a uma tempestade. Depois também a vertigem passou, e ela abriu os olhos, e sorriu porque, na verdade, tudo era tão simples" (144).
A volta pra casa não é o fracasso da viagem, das metáforas da deriva, como o filho pródigo que retorna à sua família arrependido, nem prisão no cotidiano, como em Longe do paraíso de Todd Haynes, ou estar num limiar que não se pode, não se consegue ultrapassar, como em Retrato de uma Mulher de Jane Campion. Retornar à casa também não é fuga do presente, nem nostalgia de uma infância e passado idealizados, perdidos depois de muito ter vivido, mas um gesto de construção de um lugar, uma possibilidade de encontro. Construir uma casa afetiva, uma família conquistada, como em Uma casa no Fim do Mundo de Michael Cunningham. Voltar para uma nova casa, onde se possa novamente pertencer. Não tanto a literatura da casa-grande, da casa patriarcal, arcaica, mas a frágil casa do presente, imprensada nas metrópoles, mas ainda possível. Este, o desafio ético e estético dessa poética da leveza em construção por Adriana Lisboa A esse desafio é que Cinco Estações do Amor de João Almino vai se lançar.
Desde o início, temos a dimensão da vida da protagonista, Ana, professora universitária aposentada em Brasília. É sua voz que nos conduz:
"Nada de emocionante, de pitoresco, engraçado, heróico. Nada de excitante. Nenhuma história de amor bem-sucedida. Nenhum desastre fantástico. Nenhuma tragédia capaz de comover (...) Minha maior desgraça é a de ser média. Vivo minha vida como uma tragédia cotidiana, permanente, sem um fato que defina esta tragédia (...) Falta a aventura: o sentido maior para minha existência, o que se poderia chamar de grandeza" (47).
Em um ano e cinco estações, uma vida é modificada, quando não se poderia esperar mais. A narrativa se estilhaça em situações, meio ao sabor da deriva, do acaso. No entanto, foi e não foi um ano como outro qualquer, decisivo. A paisagem de Brasília é toda afetiva, um mistério em meio ao excesso de luz nas suas quatro estações, e mais uma, como um presente, uma conquista. "Importa mais onde a gente está do que para onde a gente vai e de onde a gente vem" (190). Depois da casa perdida, incendiada, não o retorno para onde viera, a casa de sua mãe em Taimbé, nem se isolar, se fechar, mas o encontro, a transformação na maturidade: "Quero o absolutamente simples, que me acalenta, meu olhar sereno sobre a cidade que escolhi, a caminhada pela orla do lago Paranoá que sugiro agora a Carlos" (202), desde o início marcado pela suavidade, um homem que gosta de flores, procurando um ritmo marcado pela lentidão e tranqüilidade.
A cidade monumental, desumana, "de sonhos perdidos entre paisagens de desolação" (203), terra de estrangeiros, transforma-se, sob um novo olhar: "Estou em estado de graça perante o destino, talvez por causa do novo outono, que vejo no azul violáceo dos jacarandás, ou porque Carlos já me espera na varanda da casa, pronto para o passeio. Quero receber no rosto o sol quente. Embriagar-me no excesso de luz que projeta uma sombra de sonhos" (203). Esta é a redenção (não temo a palavra) de uma vida em um só instante, num gesto tão simples e incomensurável, como uma caminhada, na descoberta e repetição do prazer compartilhado das pequenas coisas, não sem antes atingir um certo contentamento, "por amar o que tenho, não o que me falta" (191). O amor entre Carlos e Ana vem por fim meio tímido nesta quinta, quase inesperada estação. "Apesar da morte. Apesar do tempo. Deve ser porque o amor não me veio, eu é que fui a ele" (201). Amor é cultivado. Uma flor. Tão simples e tão raro. Amor indissociado da amizade.
O destino de Ana se confunde com o de uma geração, a que viveu a Contracultura, tão bem encenada no impasse do fim da juventude e das esperanças, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, no conto "Sobreviventes" de Caio Fernando Abreu. No romance de Almino, a passagem na virada do milênio é para a velhice: "Sobrevivi ao hedonismo de minha juventude e à castidade de minha idade madura, a meu egoísmo heróico, à falta de dinheiro e de alegria, à minha depressão. E estou disposta a viver muito mais" (201). A passagem do milênio é feita não sobre o signo do fortalecimento do Império, do recrudescimento das intolerâncias. Aqui, também como em Calvino, trata-se da leveza como destino e herança, libertar-se do peso da memória (53), renascer, se estivermos à altura, se ouvirmos não apenas o que fala mais alto mas prestarmos atenção no fluir das correntezas, o que nos engrandece exatamente onde somos menores.
A escrita do presente é esta casa espiritual nova, um abrigo. "Me sinto mais leve e mais jovem. Sou, finalmente, meu verdadeiro ser, despojado das impurezas, dos excessos e do peso dos anos" (200). Trata-se também da serenidade para o mundo das coisas, mesmo em meio à fugacidade das imagens midiáticas, inseparável da abertura ao segredo, ao mistério (HEIDEGGER, s.d., 25) que nos dá a perspectiva de um novo enraizamento (25). Em meio aos discursos da globalização, da quebra de fronteiras, a serenidade consiste no fato do Homem pertencer a um lugar, mesmo que ele seja mais afetivo que geográfico, como em várias instalações de Ernesto Neto que sugerem conforto e acolhimentos nos espaços frios e impessoais das galerias. A serenidade é de fato o libertar-se do transcendental e, assim, prescindir de querer o horizonte.
A volta à casa é uma volta ao jardim, onde Carlos cultiva suas flores em Cinco Estações do Amor, fim do longo trajeto de Mar da Fertilidade de Mishima. Em meio à ilusão do mundo, a fugacidade das lembranças, resta a beleza concreta e frágil do jardim. Refúgio de Monet no fim da vida, para lá falar do mundo, lançar inúmeras imagens de um jardim que cada vez mais se rarefazia, se liquidifica, quando sua vista ia se turvando. Jardim, não do éden, mas o pequeno espaço a que somos reduzidos no fim, ao essencial, ao que podemos abarcar com o olhar e o toque. O jardim sempre estivera lá, mas só agora o notamos, espaço da delicadeza, do exterior próximo, perto da casa. Algo que nos pertence, mas atravessado pelo olhar dos outros, sempre à espreita, para contemplar, para possuir, para ser perdido. Chegamos enfim.
Bibliografia
Mais Denilson Lopes em Germina
> Por uma nova poética da brevidade