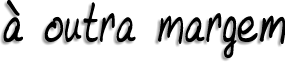
Respirou fundo o ar perfumado, à
sombra dos cajueiros. Pegou uma fruta do chão, quase podre de tão
madura, e atirou nas águas claras do rio Tacuru. Viu-a ser beliscada por
um cardume de peixes não muito grandes; a castanha descendo devagar na
correnteza. Olhou ao redor, em busca de um bom lugar para sentar. Foi
até a margem e, no barranco arenoso, sentou-se.
Calmamente, espetou uma gorda
minhoca no anzol, jogou a linha na água. Alguns pingos frescos o
molharam. Sentiu uma estranha sensação de limpeza.
Engraçado... Limpo? Ele, que há menos de meia hora havia sujado para
sempre o próprio caráter? Seu olhar mortiço vagou ansioso, mas
lentamente, para a outra margem. A areia alva (como deve ser a da praia)
já não mostrava suas pegadas. O vento as apagou.
Três andorinhas brincalhonas
voaram rente à água, tomando seu banho vespertino. A linha da vara de
pesca teria sido levada rio abaixo, se não estivesse presa. Será que
seria preso? Puxou a linha para ver se fisgara algum peixe. A minhoca
estava branca, lânguida. Cheirando o aroma dos cajus, colocou um pedaço
no anzol e atirou a linha na água novamente. Os pingos que agora o
molharam fizeram com que se sentisse sujo. Mas não era ele que estava
sujo... Era a água! Toda a água daquele rio! Águas sujas de sangue,
águas mortíficas!
A vara agitou-se. Ele puxou-a
violentamente, e uma grande traíra caiu na areia, sujando-a de
sangue.
Apavorado, como se aquilo o
denunciasse, atirou o peixe no rio. Foi descendo na correnteza, com uma
maré vermelha. Menor do que maré de sangue que seguiu o cadáver de sua
mulher rumo ao oceano.
Querendo dar vida ao que matara, livrar
a alma do pecado, saltou no rio; e não nadou.
(imagens ©m/m paris)

Luciano Serafim nasceu em Maceió (AL),
em 1977. Mora em Dourados (MS) desde 1994, onde cursa graduação em
Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Publicou
Eu, Entre Nós (poemas em 2002) e Outro Dia a
Gente Sai (contos, 2003).



