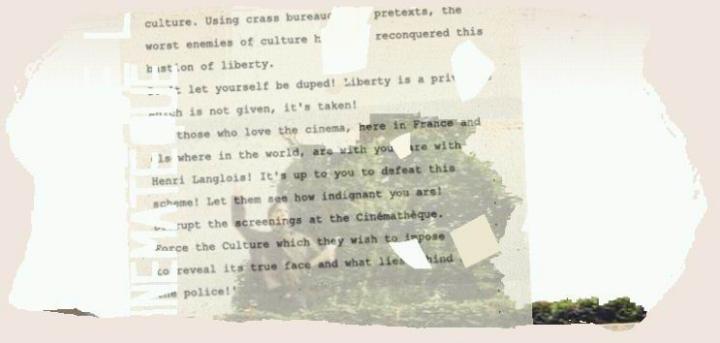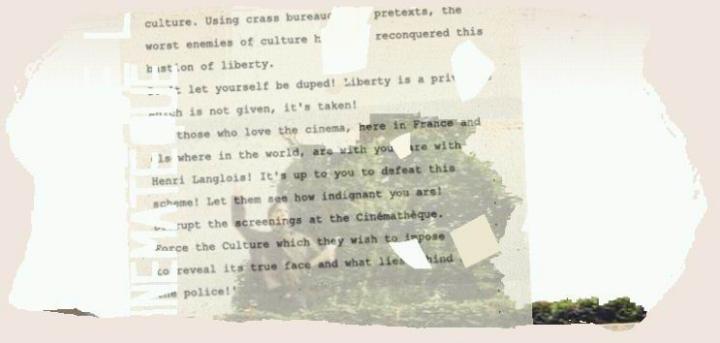Entre a eterna massificação do
cinema com a qual Hollywood geralmente nos brinda e o psicologismo do
cinema europeu, podemos assistir sem muitos desgostos ao último filme de
Bertolucci. São fartas as referências para os mais cinéfilos, e
encontramos ali as músicas, atores e enredos de Truffaut, um personagem
de Louis Malle urinando nas pias, as escadarias da Cinemateca Francesa,
Henri Langlois, A Chinesa de Godard e tantas outras
citações. Algumas explícitas (como quando os personagens vão ao cinema
ou quando representam uma cena de um filme qualquer, para que os outros
adivinhem o título do mesmo) e outras menos óbvias, o que torna toda a
exibição um jogo que nos
faz darmos conta da nossa cultura (ou da falta dela)
cinematográfica.
O jovem trio central (um casal
de gêmeos franceses e um estudante norte-americano) acaba por se
entregar porém a um hedonismo antagônico aos acontecimentos de maio de
68 em Paris, estopim do encontro entre eles, já que é a própria expulsão
de Langlois da direção da Cinemateca que os reúne. Vale lembrar que toda
massa cerebral parisiense em funcionamento se revoltou com o episódio da
demissão, e manifestações não faltaram. Os três então, já alheios aos
protestos, se trancam quase que integralmente no apartamento dos gêmeos,
para discutir música, cinema, maoísmo, para se descobrirem sexualmente,
para experimentar vinhos caros ou haxixe do Nepal, para viver algo até
então completamente novo a eles. Tudo é um tanto incestuoso, bissexual e
quase pornográfico, mas deve-se reconhecer a economia com a qual o
diretor trata as cenas, o que imprime até uma certa elegância ao filme.
Boas referências porém não garantem bons filmes. Bertolucci lança
mão de personagens estereotipados e a própria Paris é uma maquete
daquilo que os norte-americanos pensavam dela. Acompanhe: os franceses
cheiram mal (Theo), são inovadores sexualmente (os irmãos dormem nus e
juntos), são cultos (o pai é poeta, o apartamento é abarrotado de
livros, quadros, esculturas — algumas vivas, como a Vênus/Isa), são
avançados na criação dos filhos (quase não interferem, mesmo quando a
situação chega ao limite, a mãe pede o silêncio resignado do pai), comem
comidas esquisitas e mesmo lixo, se preciso (embora Agnes Varda tenha
mostrado recentemente que isso pode ser
verdade).
As manifestações de 68 se
perdem no roteiro e, no fundo, parece que faziam somente parte do
cenário. As discussões sobre tal diretor ou tal músico se limitam ao
gosto pessoal dos protagonistas, não levam a nenhuma elucubração mais
interessante. Há livros, mas pouco se lê. Aliás, quase não há
consistência nos personagens. Isa, aparentemente liberal, é a
conservadora de plantão, seja quando interrompe um possível beijo entre
os rapazes ou quando seu sentimento de culpa e vergonha perante os pais
a faz arriscar a própria vida e a dos outros. Theo também parece uma
figura extraterrestre deste planeta chamado Paris, onde as pessoas se
despem e se masturbam na frente de hóspedes, onde se pode tranqüilamente
fritar uns ovos enquanto outros transam na mesma cozinha. É obvio que
tudo isso pode acontecer, mas o que incomoda é que o único a parecer são
e normal é justamente o norte-americano (que mantém intacta sua sanidade
até mesmo no final). Os franceses são excêntricos, o estrangeiro (que
justamente reclama de ser chamado de "alien" pelos parisienses) é
ponderado, se parece com a gente, não importa de onde sejamos. Já vi filmes assim antes, que
querem ser europeus, mas que acabam por se tornar uma caricatura somente
(como a recente refilmagem de Solaris).
E Bertolucci não pode negar,
já aplicou a fórmula antes. O seu O pequeno Buda nos apresenta
três crianças candidatas a uma provável reencarnação de um mestre
tibetano: uma norte-americana, uma nepalesa e uma indiana. A ocidental é
a mais simpática, sábia e humilde, e apesar de todos acabarem tendo sido
reconhecidos como o mestre, ela é a única que nos convence. Os tibetanos
do filme parecem naturalmente iluminados, mas os yankees descobrem a sabedoria
através da perda, da dor e da morte, como nós. As diferenças, neste
caso, apenas servem para indicar quem são os esquisitos.
Sobre Os Sonhadores, lamenta-se que
um filme com o início tão brilhante acabe servindo só para diversão. E,
pior, ao utilizar temas tão caros ao cinema francês a aos cinéfilos em
geral de maneira banal, sem propósito, a homenagem (?) que Bertolucci
quis fazer acaba tendo um efeito contrário. Por uma questão de respeito,
toda a turma do Langlois merecia mais. E o mesmo respeito se reserva a
Jules e Jim, caso alguém,
equivocadamente, tenha cogitado a
comparação.
abril,
2005
João Vieira é
funcionário público e burocrata, mas vai ao cinema sempre que pode.
Considera todo crítico, inclusive ele próprio, um diretor frustrado. Não
gosta de polêmicas, mas entre Truffaut e Godard, fica com o homem que
amava as mulheres.