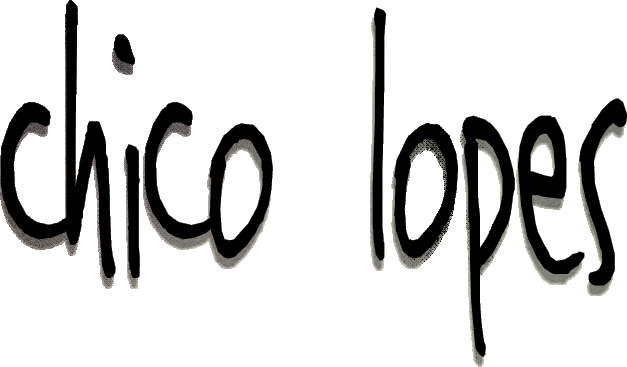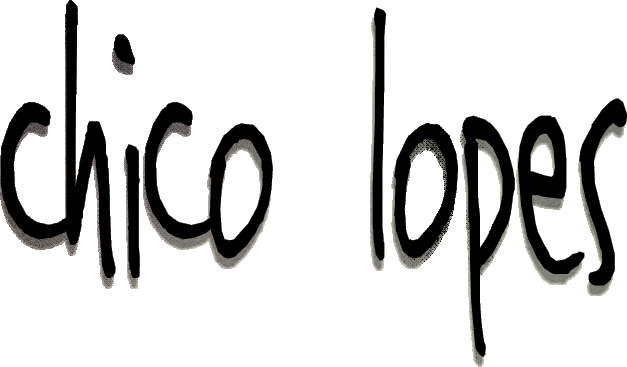Bem
sei que ele não existe, mas sua ativa inexistência me perturba mais que
tudo que é vivo. Decretei sua irrealidade, o que foi uma maneira
estúpida de bani-lo de minha casa, porque não haveria supressão que o
devorasse inteiro, e o decreto só fez criar uma coisa que opera em
silêncio, em esconso, em desvão, em oco e adivinhação, resto, ponto de
fumaça, falácia de canto de olho, passagem, pergunta. O decreto deu-lhe
a consistência de tudo quanto é ardentemente negado,
escamoteado.
Ele
se instalou assim, nem revelia, mas suposição irritada, nesses cômodos
em que durmo sozinho. No entanto, tem preferência por certo quarto, onde
estou certo que entra tarde da noite, quando meu sono me dispensou da
tarefa de vigiar não-seres, quando pode contar com um silêncio de
silêncios. Penso que essa — o quê? criatura? — precisa
descansar de minha vigília, de minha vontade de capturá-la, entendê-la,
e, portanto, privá-la da razão de ser. Sua defesa reside nessas horas em
que minha consciência já nada pode. Deve precisar dormir também, e seu
sono emenda com o meu, mas em compartimentos que se roçam com
hostilidade incurável. Há uma ameaça de que se encontrem, de que
procurem olhar-se face a face, em certos sonhos. Dura pouco, graças aos
céus: um dos dois — eu — abre os olhos e pensa que é bem
melhor morrer que estar na iminência de certas
coisas.
Contíguos,
estamos sempre. De que se falava no bar, último sábado, quando alguém
disse que poucas pessoas são tão distraídas quanto eu? Dois amigos,
ambos entreolhando-se, afirmando que é preciso, às vezes, sair em busca
de mim como de algo que se afunda. Quais águas? Essas onde peixes
interrogativos ondulam, múltiplos, sonolentos — são impensáveis,
mas ganham escamas, barbatanas, guelras, tanto os especulamos. Essas
águas com as quais pareço ter um acordo. Essas nas quais me refugio de
diversões, mas também de compromissos que poderiam
fecundar.
Por
quê não estar mais atento ao que se quer, ao mundo, ao denso,
consistente, claro e possível de coisas e seres? Falar de dinheiro, de
mulher, dos tranqüilos tangíveis, daquilo em que uma alma pode se
ancorar, certa de que, possuidora de um corpo entre outros corpos, de
uma fala como as outras falas, será enfim inteligível? A benção do raso,
do igual, do compartilhado. Um deles me pediu que eu acreditasse mais,
que eu rezasse. Outro, que eu me fizesse mais acessível a grupos, que eu
entendesse o que de abominável podem atrair as obstinadas
solidões.
Mas
no próprio bar, por um canto, por um lampejo no piso, uma asinha de
qualidade extremamente fugaz, inapreensível, entrou. Decididamente, eu
não quis mais a conversa. Saí, apressado. Não fugindo, mas procurando
lugares onde poderia haver um encontro mais lógico, mais em meu
domínio.
Interessei-me
por certas particularidades da noite: o que se ouve quando nada mais se
ouve, e a cidade, esta, pode ser extraordinariamente quieta, em certas
horas. Pelos lados do parque, uma insinuação de água, como que um gemido
engolido por um tanque no escuro, alguma bolha interrogativa que pode
emergir entre nenúfar e musgo, denuncia uma das passagens. Deve ser a do
homem que afogou-se, e tem, na madrugada, uma brecha para vir à
superfície, recordar, repetir que era questão de segundos, que era
questão de alguém ter olhado, que era... A qualidade do canto de certos
pássaros noturnos precede a chegada de uma mulher que, morta, nunca
morreu, e pode estar querendo não que se reze por ela, mas que se dê fim
a qualquer possibilidade de sobrevivência do espírito, isto a definição
de alma penada.
Não
estou lá, mas posso ver as aléias, posso me arrepiar do frio dessas
penas, acrescentado ao frio natural da hora, e ver as figuras que se
esgueiram entre árvores altíssimas, ver, para além, o recorte escuro,
intimidador, dos muitos
hotéis, erguidos como jazigos onde almas que repetem velhos gestos,
sonham sonhos automatizados, pedem para subir jantares, encomendam
flores, e mofam, insatisfeitas,
sem jamais vir às janelas.
E
há danças. Em certas noites, falava-se muito, trafegava-se muito, em
certo salão de jogo que sobreviveu, no ar. Coisas que rodopiavam,
multiplicidade de solas de sapato no soalho, cheiros de colos femininos,
três ou quatro violinos procurando afinar-se. Há, solta, muita coisa
extraordinária, e basta atentar para o que não parece plausível, deixar
a alma em sua função natural de sonho que tudo começa a chegar, a
assentar-se, mas, cuidado: não há controle algum sobre o não convocado,
que pode entrar.
Há
tanta maneira de se escudar, de se entreter, de deixar as portas
fechadas. A televisão ligada a noite inteira, uma janela que se abre,
olhar lá para baixo, adivinhar transeuntes, um serviço de telefone que
pode trazer certos alívios, uma série de barricadas que se pode erguer
para que essa espécie de loucura — a menos fácil de definir; tomado
por ela, pede-se ajuda a quem? — fique esquecida. Antidistônicos,
um sanduíche, um CD. Houve terrores maiores, alguns tiraram-me o sono em
tempos outros: a preceptora se depara com Peter Quint olhando pela
janela e é preciso proteger o inocente; morto um vizinho, suspeito que
começo a me parecer com ele, tenho medo, minha voz, meu corpo, o que, de
quem, são?; alguém conta que o homem que tínhamos visto, meninos, passar
pela rua de noitinha, saudar-nos com um chapéu, era nada menos que um
suicida, enforcado, do dia anterior, numa chácara; há, no quintal de uma
vizinha, um poço de onde sai, certas madrugadas, um fio de voz de
criança, implorando. Tarde demais para ter medo, pensando bem — o
que já se viu, o que já se pensou! No entanto, não há
repouso.
Sendo
assim, que se vigie. No mais quieto, quando já nenhum carro passa e, em
torno das luzes, ouve-se tênue conversa de mariposinhas, paredes que se
estendem, que são apalpadas por dedos que avançam, há um deslizar
imaterial na descida da escada, que é preciso seguir — passos que
obedecem a passos, a promessa de que isso se desvende, de que isso se
acabe.
Vi-o,
pensei vê-lo, tendo que lidar com trinta possibilidades que se excluíam.
O desenho que me foi possível fazer, encontrei-o hoje mesmo, folheando
um livro em que tinha pensado poder encontrar explicações,
apaziguamentos. Que é isso?
Ave, lagarto, felino, o quê? Traços de lápis de cor, algumas partes em
guache, fazem com que se encontrem plumas, escamas, pelos, patas,
garras, olhos, obscenidades e
uma imprecisão que é tanto mais imprecisa porque o desenho
acumula, acumula, não parecendo poder deixar de acumular, mais um
detalhe, mais uma característica, isto, agora, ainda não,
ainda não, tal qual a cabeça que o faz, aturdida. Não é guia para
nada. Tenho que lidar com a crueza viva, agora indiscernível, não fosse
por uma tira de sombra — ai, tão passageira! — que supus ali,
sob uma das mesas. Como seguir, como acuar isso?
A
atenção se quebra, há muito sono, a casa parece de uma quietude em que
se pode adivinhar cada coisa cumprindo a sua imutabilidade, a sua
tranqüilizadora inércia, na mais perfeita obediência a um quadro mental
bem estabelecido, uma cristaleira como cristaleira, um sofá como sofá,
só firmes inexistências, só densidades domadas. A atenção retorna, não há o que
escape a esses ouvidos. Um gemidinho. Subir. É no quarto, o quarto que a
abominação prefere. Aquele.
Ah,
bem, agora está mais claro, cheguei no momento, é possível intuir que
uma coisa se mexeu, se escondeu, surpreendida, num canto onde há jornais
e revistas empilhados. Algo, de cócoras, tentando enfiar-se,
enrodilhar-se, sumir.
Pego,
sinto o vago de pluma e escama, o peso de um viscoso, puxo, puxo um
corpo que continua impreciso, puxo, agarro a nuca, forçar, forçar,
forçar, forçar para que me olhe, me responda, me explique, se deixando
ver, derrotar. A respiração acusa o não poder com meu aperto, choro
(aquilo é choro?) pelo que vai parecendo um estrangulamento, e, ainda
assim, nada de virar-se, de mostrar o rosto — pelo que é necessário
mais força, matar, matar, se isso não se quiser decifrar vivo. Quando me
dou conta, tenho na mão, no olho potente, como que diante de uma janela
onde o sol se desse de tal modo que não subsistisse um só empecilho à
visão, um rosto. Cada pelo, cada fibra, o olho, a boca, cada poro, cada
acne, tudo é eu. Já nem sei se é minha ou dele a voz que
implora:
—
Tenha piedade de mim.