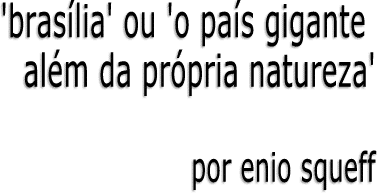Brasília, como todas as cidades do mundo, não deixa de ser uma obra em construção. E quando o próximo presidente tomar posse, no fim do ano, é quase certo que algo se acrescentará à cidade nos próximos quarto anos, a despeito do chamado Plano Piloto da Capital. Assim como uma casa se altera com a simples presença humana, qualquer cidade faz-se diferente, seja qual for o poder que a comande, por menos que a ação do homem se manifeste em seus edifícios ou em suas praças. Nietzsche dizia, com toda a razão, que a "arquitetura é uma espécie de eloquência do poder pelas formas, ora convincente e até acariciante, ora dando somente ordens". Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que a conceberam, não devem ter projetado Brasília tendo em vista as tais "ordens do poder" — de resto, difícil de definir num Estado tão instável como foi o do Brasil nos últimos decênios —, mas certamente a pensaram pela imponência que o Brasil afinal ostenta, por mais que nossa baixa estima diga o contrário.
Nada de nacionalismos, se for possível, mas difícil imaginar qualquer estrangeiro chegar em Brasília e não se dar conta de que o Brasil é gigante para além da própria natureza. Villa-Lobos sempre pensou mais ou menos assim — daí, as grandes massas orquestrais a imitar a natureza portentosa como ele concebia e ao acrescentar ao que seria natural a sua música, como a eloquência da grandiosidade. Mas daí, também, uma certa tristeza cava de algumas de suas peças — quem sabe, esse outro lado que a imponência de Brasília não consegue disfarçar.
Fala-se da grandiosidade, e não é o menos que se impõe ao visitante, a partir do corredor da Esplanada dos Ministérios. Nele, não se imagina o que Napoleão concebeu para a França como o arco do triunfo, em Paris, que só existe na suposição de tropas guerreiras a desfilar vitoriosa de uma batalha ou de uma guerra ganha algures. Os antigos romanos conceberam esse tipo de monumento na agressividade de seu império, que depois seria imitada não só por Napoleão, mas pelos prussianos de Frederico, o Grande, pois os prussianos também projetaram, para essas glórias feitas de sangue, o erguimento da Porta de Brandenburgo, em Berlim.
Certo, a Brasília da Esplanada não projeta glórias, mas metaforiza o grandioso, o tamanho do território brasileiro, respaldada na grande extensão do próprio entorno do cerrado. E talvez resida aí, de novo, a pergunta previsível: para quê?
Difícil deslindar o que são os países, ou como se formam. A arquitetura de uma nação, sem dúvida, diz muito e é o que se sente em Brasília, independentemente dos ocupantes eventuais que passam a habitar os seus palácios, na alternância que a política do Brasil permite. A grandiosidade de Brasília, contudo (pelo menos na Esplanada), dá o que pensar.
Quando construiu a hoje São Petersburgo, o czar Pedro, o Grande (1672-1725), pretendia impor à Rússia, não só o que seria uma capital moderna, espelhada principalmente na glória da França, mas o seu corolário, isto é, mostrar ao Ocidente que o seu Império não era a de um povo bárbaro, e sim de uma nação civilizada, que tinha muito a dar à cultura, especialmente do Ocidente. A rigor, não estava sonhando muito alto. Na verdade, logo depois, a Rússia daria Pushkin, Gogol, Glinka, Korsakov, Tolstoy, Tchaikovsky, Stravinsky, e por aí afora.
Igualmente, a Brasília de Juscelino não parece ter sido projetada senão na invenção a serviço de um poder. Só que também na ilusão da sua virtualidade democrática.
Diz-se isso porque, paradoxalmente, quando os militares deram o golpe de 64, nada lhes foi mais proveitoso do que a distância de Brasília do Brasil real — o longínquo das manifestações populares, a quase inacessibilidade dos protestos, dos reclamos e, sobretudo, a distância do Brasil cultural. Durante a ditadura, Brasília revelou-se cega, surda e muda. Descontem-se, portanto, as vantagens do poder para o poder, e as desvantagens para a própria Brasília e o País, tão longe dos centros culturais do norte, nordeste, do sul e sudeste, e se tem o que falta construir na capital — e que já deve, aliás, estar sendo esboçada —, que é a cultura autóctone, a cultura da própria cidade. Especioso repetir que Brasília é uma cidade burocrática, com poucas opções culturais, e que isso não é bom.
O grande crítico e historiador contemporâneo italiano, Giulio Carlo Argan, resgatou o teórico renascentista Vasari para definir a arquitetura do edifício mais famoso de Florença — o Santa Maria del Fiori: ela teria as redondezas do perfil das colinas em que se assentou a cidade. Brasília, pela sua horizontalidade, define-se muito bem no cerrado. Mas, por enquanto, é apenas uma forma, a forma da imponência quase assustadora do Brasil, que, mesmo os brasileiros, desconhecemos (afinal, Villa-Lobos é muito pouco escutado principalmente no Brasil). Seria um otimismo, digamos, elementar, almejar que, em vez de só poder, Brasília alcançasse a dimensão cultural que Nietzche via na arquitetura, que era também a de ser "acariciante", e que só a cultura, a grande cultura pode acrescentar?
O imenso país expresso na obra de Niemeyer e de Lúcio Costa talvez ainda perca por esperar. Ou não?
novembro/dezembro, 2006