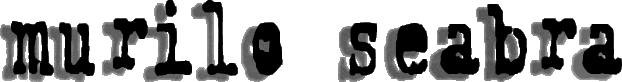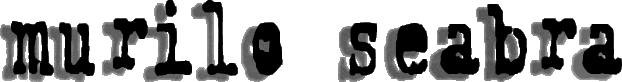Antigamente,
escreva. Antigamente. Havia mais candura, escreva. Antigamente havia
mais candura. Não pare, não pense. Antigamente havia mais candura no
manuseio do papel, havia mais respeito, continue, mais atenção, mais
cuidado no momento de escrever, as palavras. Solte seus dedos. As
palavras. Não os detenha, não os prenda, não os. Eram mais respeitadas.
Temia-se o que um erro poderia acarretar. Se a intenção carregava
harmonia em seus contornos gerais, exalando, porém, deseqüilíbrios
tênues, quase imperceptíveis, seus efeitos. Seus efeitos. Não pare, não
exatamente os amplificavam, como hoje os amplificam e agravam, mas os
repassavam em sua exata medida, em suas mesmas proporções. Mas as
palavras, escreva, as palavras, fiéis aos seus próprios desígnios, mais
do que aos planos de quem. As palavras, de quem. Deixe-se levar. Nunca
se deixaram subjugar, não completamente, nem mesmo hoje, a despeito dos
esforços sempre crescentes de usá-las contra sua essência, contra sua
vontade. Ao contrário de hoje, contra si mesmas. As palavras. Não vieram
para ocultar, mas para revelar. As palavras, as palavras não vieram
para. Simplesmente vieram. Usá-las para. É violá-las. Prossiga. Se
vieram para. Não foi para servir, mas para serem servidas. O que
deveriam ocultar, revelam. O que deveriam revelar, ocultam. E quando
viradas completamente contra si mesmas. Para que não digam, mesmo com o
universo a dizer. Ou para que digam, mesmo sem nada a dizer. Morrem,
inexpressivas. Seja em sua textura. Seja em sua concatenação. Seja em
seu ritmo. As palavras acabam sempre por revelar o que se intentava
esconder, o que se planejava, não hesite, o que se desejava esconder.
Entre no fluxo, deixe-se levar. O que se pretendia esconder. É sempre
transmitido. De uma forma. Ou de outra. Sempre passado. Sempre
absorvido, continue, ouvido tão conscientemente quanto conscientemente é
dito, basta a quem as recebe ter silêncio em seu peito, basta ter um
espaço neutro e vazio para que o tênue se faça nítido. Até mais claro
para si do que para quem, do que para quem. Antigamente, escreva.
Antigamente. Mais cheias de silêncio, as pessoas. Tanto as que falavam
como as que ouviam, as pessoas não diziam mais do que era preciso,
apenas o suficiente, apenas. Havia mais atenção, mais cuidado no trato
com o papel, apenas o suficiente para o resto ser desenvolvido, não
havia palavras sem nada escuro, sem nada subjetivo, sem nada úmido, a
suavidade, antes a regra. E a sinceridade, antes espontânea e direta.
Sobrevivem agora quase exclusivamente nas cartas. Ao contrário de hoje,
ao contrário. Escreva. Antigamente, só havia cartas. Ao contrário de
hoje, antigamente. Não, não consigo. Sinta a dança dos significados. Não
consigo mais. Então, apenas registre suas pegadas. Hoje. Não consigo,
meus dedos. Meus dedos. Estão rígidos. Não quero interfeir, não quero
colocar nada que venha de mim. Mas é com o que vem de você que é preciso
dialogar, com o que está em você e não deveria estar. Mas. Continue. Não
consigo, tenho medo. Estão rígidos. Interferir, não se preocupe. O fluxo
do sentido precisa das suas palavras para se exprimir. Agora se solte.
Agora se entregue. Desmanche a represa, deixe a água passar. Abra a
porta, deixe o vento entrar. Simplesmente deixe. Tenho medo. Largue as
pedras, deixe-se levar pela correnteza. Solte os galhos, deixe-se voar.
As pedras e os galhos, suas opiniões e suas intenções, largue tudo,
largue de si mesmo, largue da sua identidade, largue do hoje, largue.
Destranque a porta. Mas. Não enrijeça seus dedos, vou por eles fluir.
Mas. Onde a interferência é necessária, não pode ser evitada. Embora
seja verdade que muitos signos podem ser usados com o mesmo significado.
E que não há nenhuma razão para escolher um em detrimento de outro.
Também é verdade que os signos têm seus matizes, que uma convergência
superficial pode mascarar uma divergência profunda. Mas algum precisa
ser usado se o discurso não quiser continuar parado. Que o leque de
possibilidades não paralise e sim facilite. As palavras se combinam
apenas como querem. Apenas como podem. E só querem o que podem. E tudo o
que podem, querem. Mas. Largue do hoje. Largue do ontem. Largue da
diferença entre o hoje e o ontem. Antigamente é apenas um modo de falar
que deveria, um modo mais suave, menos autoritário, que narra ao invés
de mandar. Deveria haver mais candura no trato com o papel, mais
respeito, mais cuidado. Se as palavras o tornassem mais leve, não mais
pesado. Se as palavras. Não mais. Pesado. Continue. Mais. Pesado. O
obstáculo se fortalecerá se você quiser continuar no mesmo caminho. Mas
se você ceder, como a água cede e continua. Perceberá que o obstáculo
sinalizava outro caminho. É assim que a linguagem, que a linguagem.
Deixe-se levar, deixe-se fisgar. Se as palavras o tornassem mais leve,
não mais pesado. Não mais. Pesado. É como se o não tivesse me dito não,
me inibindo, como se o pesado houvesse tornado tudo mais pesado,
bloqueando meu caminho. Na verdade, não é como se. Continue. Realmente
me disse não, realmente pesou. Porque não é preciso mostrar o caminho
errado para mostrar o certo, empurrar para baixo um prato da balança
para erguer o outro. Empurrar o direito para levantar o esquerdo. Deixe
que o peso afunde por si mesmo. É a leveza do sim que deve erguê-lo, não
o peso da sua negação, prossiga, negar para afirmar. Negar para afirmar,
não é apenas desnecessário. É também um obstáculo à própria afirmação.
Um obstáculo, deixe-se fisgar. Não é possível afirmar plenamente ao
mesmo tempo negando. O peso do prato que desce neutraliza a leveza do
prato que sobe. O sim é apagado pelo não que tenta reforçá-lo. Continue.
E assim também não é preciso dizer não ao não, nem tampouco não ao não
ao não. O não ao não amplifica o não, não o sim. Havendo um obstáculo,
um não, um peso. A melhor forma de restaurar o equilíbrio não é
adicionando mais erros, mas não mais os adicionando, prossiga, o que bem
pode acontecer quando a intenção não é apenas de corrigi-lo, mas também
de estampá-lo e humilhá-lo, como se fosse mais pesado do que realmente
é. Mais errado do que realmente é. Antigamente havia mais compaixão,
mais candura. Mais leveza. Já se considerava o peso suficientemente
pesado. Não era preciso realçá-lo. Não era preciso. Era preciso. Preciso
continuar. Então, continue. Difícil, está cada vez mais difícil. Mas não
há nada a fazer para que seja difícil. É só deixar. Mas. Deixe, é
simples. Solte os dedos, eu os conduzirei. Não faça nada. Apenas
desfaça, apenas se desfaça de si mesmo. Mas é difícil. Sem dúvida, é
difícil não fazer nada. Até mais do que difícil, parece até impossível.
Fazer nada, um paradoxo. Basta fazê-lo para que não seja mais nada. Não
consigo. Não fazer nada. Uma tarefa simples. Contudo, irrealizável. Por
ser simples demais. Como ver a escuridão. Ou o ar. Ou permanecer imóvel
num planeta em movimento. O que preciso fazer, o que é preciso fazer é
parar de pensar. Não de ver, não de sentir. Não de experimentar. Apenas
de pensar. Para ampliar o experimentar. Simplesmente deixe. Apenas de
objetar. Antigamente, escreva, as palavras o tornavam mais leve, tire o
pesado, quem quisesse escrever uma carta precisaria confeccionar sua
própria tinta, bem como a folha que a receberia. Não havia quem as
vendesse ou quem as fornecesse em troca de serviços. Ou de outras
mercadorias. Tire o erro, não pare. Não pense. As palavras que seriam
impressas na carta nadavam na tinta. Desde o momento em que recebia o
pigmento, até o momento em que fervia, prossiga, tudo o que não
precisava ser realmente escrito. Tudo o que era inessencial. Era
inessencial. E coagulava e se precipitava ao fundo, jamais chegando ao
papel. Mas quem quisesse escrever uma carta, precisava não apenas
preparar a tinta. Como também o papel. Como também o papel, continue.
Não havia assim papel sem desejo. Mais do que desejo, não havia papel
sem necessidade. A
vontade de escrever precisava ser imensa, irreprimível. Para que se
iniciasse todo o processo que desembocaria na tinta, no papel e
finalmente na carta. Não havia papel sem destino, nem palavras que
sobrassem. Não havia desperdício de tinta, nem de fibra. Não havia
frases mais longas do que o seu sentido. Do que o seu sentido, prossiga,
solte os galhos, tenho medo, então agarre-se às folhas, solte as pedras,
agarre-se à água. A carta já começava a ser escrita durante a preparação
do papel. E o papel, já nascendo com sentido. As palavras que depois
receberia, já as conhecia. Já as tinha ouvido nos dedos que o fizeram. O
que havia de ser nele posto, era o que havia de ser. Não era de modo
algum estranho, agarre-se à água, encontrava o papel como a um velho
amigo. Os pensamentos que seriam deitados na carta. Além de pensados. E
repensados. Eram também sentidos. A forma da mensagem, o seu tom.
Mesclavam-se ao seu conteúdo. Num todo único. A forma de dizer, já
dizia. Mesmo que ao fim o papel não fosse utilizado, mesmo que ao longo
de sua feitura absorvesse todo o sentido que o havia trazido ao mundo. E
permanecesse em branco. Muitos sentimentos. Muitos pensamentos o teriam
atravessado. Muitas idéias, muitas sensações o teriam acalentado. Em sua
confecção. De modo que agora o perpassavam. E só precisavam de um pouco
de contraste para se tornarem perfeitamente visíveis, o contraste da
tinta. Mesmo que ao fim o papel não fosse utilizado, sua ausência de
palavras, longe de refletir uma falta do que dizer, refletia antes um
ter a dizer primevo e oceânico, que havia considerado todas as
afirmações. E as suas negações. Investigado todas as possibilidades, sem
negligenciar suas impossibilidades. Saboreado os versos e os reversos,
um dizer que havia contemplado todas as alternativas, inclusive a de não
ter contemplado todas, um dizer pronto a ouvir, que deseja, na verdade,
mais ouvir do que dizer, um dizer sereno, um dizer pleno. Em seu
silêncio. Regado a sentido. Não tinha nada de inexpressivo. Algo já se
estampava na sua calma, na sua neutralidade, embora ainda de maneira
indecifrável. Como um som distante. Seu silêncio não era apagado, mas
vivo, não era um silêncio vazio, mas latejante. Como um murmúrio quase
audível. Esperando apenas um pouco de atenção para ser compreendido.
Antigamente, escreva. Antigamente, o papel. As palavras quase emergiam
de sua superfície, como uma brisa. Antes mesmo de serem escritas. Antes
mesmo. Não consigo. Como não consegue, veja o que já fez, basta
continuar. Mas é justamente o que já fiz que me assusta, consegui mais
do que esperava. E só consegui o que consegui por não ter notado que
estava conseguindo. Mas agora já acordei. Pedras, galhos. Como fui capaz
de fazê-lo. Como, não sei. Apenas sei que não consigo mais. Então, pule
no abismo. Mesmo sem saber voar. Se você não sabe, se você não consegue.
Faça sem saber, faça sem conseguir. Faça sem fazer. Solte-se, voe.
Antigamente havia mais a dizer. Do que era dito. O escrever. Flua. Era
um transbordar, não um esforço para tirar água de um poço vazio. Não
premedite, não pense. Pressinta. Havia mais conteúdo do que expressão,
tudo era tão trabalhado, tão revolvido antes de ser escrito. Que não se
precisava dizer muito. Antigamente se usava com mais atenção o papel,
tão difícil de fazer que era. Tão árduo o processo, tanto o tempo que
levava, que ninguém ousava desperdiçá-lo. Desfiava-se cuidadosamente a
madeira, as fibras eram postas de molho. A água sujava, era trocada.
Assim que se turvava, era trocada de novo e mais uma vez se turvava. Até
que um dia sob sua transparência se descobria as fibras abraçadas no
fundo. Então se deixava a água evaporar. E a folha secar. Não se fazia
papel em grandes quantidades, pois levava tempo. E como levava tempo, o
sentido inicial que havia posto as engrenagens em movimento se fundia ao
material. E se ampliava e se adensava. O que de início parecia demandar
apenas uma folha. No fim do processo, quando estava pronta, tinha se
multiplicado a ponto de serem necessárias cinco, dez, vinte, até cem
folhas. Mas só havia uma. Na qual tudo, condensado, encontrava o seu
lugar. Nada faltava, nada sobrava. Nenhuma palavra soava arbitrária,
escrita ao acaso. Embora fossem todas escritas com a mais leve
espontaneidade, sem nenhum planejamento. Se não pareciam arbitrárias, é
porque se ligavam de maneira lógica e necessária. De maneira não
pensada, não refletida, não premeditada, atavam-se umas às outras. Como
os elos de uma corrente. Com a ajuda da tinta, consciente de tudo o que
havia sentido enquanto fervia, as letras se desenhavam umas após as
outras como uma melodia. Cada palavra trazia em seus contornos uma frase
e cada frase um parágrafo. Numa só folha, um livro. Muito era dito,
pouco era escrito. A primeira palavra soava perfeita, a única que
poderia ter iniciado a carta. E a segunda parecia sua sucessora natural.
Que deveria então ser seguida exatamente pela terceira, depois pela
quarta e por todas as demais, cada uma só tornando mais evidente o que a
anterior dizia, o que o papel já trazia. Quem conseguisse deixar que a
primeira letra ecoasse suficientemente fundo dentro de si. Quem
conseguisse se despojar inteiramente de seu ser a ponto de se tornar
apenas um vazio. Uma porta aberta. Um leito de rio. Escutaria a carta
inteira correr por suas veias. Tão logo lesse a primeria letra. E tão
nitidamente que seria capaz de reescrevê-la.