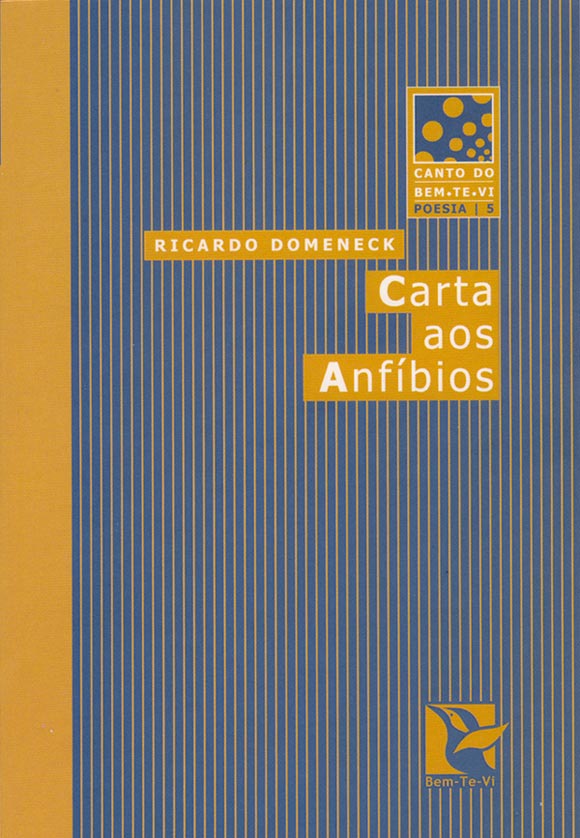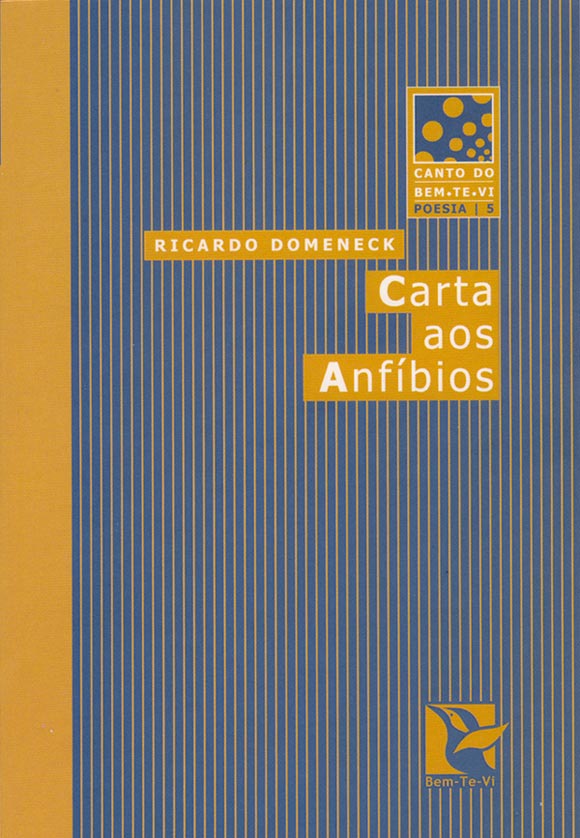Ricardo
Domeneck, autor de Carta aos Anfíbios (Rio de Janeiro:
Bem-te-vi, 2005), seu livro de estréia, nasceu em Bebedouro
(no estado de São Paulo) em 1977 e vive em Berlim, onde ensina
inglês e é disc
jockey.
Em entrevista concedida à revista Inimigo Rumor1,
falou de sua poesia referindo-se à tese da atual crise da metáfora,
que teria sido gerada por um declínio da transcendência.
A primeira parte do livro, ainda segundo o autor, refletiria o uso
da metáfora, que teria, porém, se enfraquecido na segunda
com o emprego da metonímia (estratégia preferida pela
poesia contemporânea).
Contudo, penso que as duas metades do livro unem-se em metáforas ligadas à água e aos anfíbios, desdobrando-se numa família de secreções e rios — Carta aos anfíbios é um título muito bem escolhido. Essa imbricação faz com que a própria divisão pareça um pouco arbitrária, embora a segunda seção apresente mais "confusões" da "vida privada" (p. 90).
A
transcendência, ademais, aparece como trauma pessoal nas numerosas
referências bíblicas. No primeiro poema (Eu digo
sim até dizer não), comparecem Lázaro, Abraão
e Isaque, isto é, tanto o movimento de voltar à vida
quanto aquele que precede o potencial sacrifício, quando "uma
garganta/ enrijece-se rápida/ para resistir à faca"
(p.13). O poema sofre de certa dispersão das imagens, mas é
emblemático para o começo do livro, pois encena a busca
da forma a partir do caos. Nesse sentido, parece-me exata a observação
de Ítalo Moriconi de que o autor "flerta com o ''informe''
da linguagem", e a "imaginação [...] suplanta
o esforço construtivo"2.
Curiosamente,
em poema disponível na revista
eletrônica Hilda3,
Domeneck escreve: "Ele diz/"a música/ de Heitor/
Villa-Lobos/ sofre/ de falta de forma." Pode-se bem discordar
dessa posição: as peças de Villa-Lobos sofrem
quando falta a centelha criadora, pouco importando se estão
sob formas tradicionais (ele era, obviamente, capaz de empregá-las).
E sua música, muitas vezes, representa o próprio processo
de busca de uma forma. Nas devidas proporções, o mesmo
se poderia dizer de Domeneck (embora o seu discurso não apresente
nunca a largueza amazônica que o compositor tantas vezes alcançou,
tampouco exercite as formas clássicas), que explicitamente
apresenta o poema como episódio dessa busca. Por isso, as imagens
relativas à água ocupam um lugar central não
só como metáfora, mas como princípio de criação:
"em alto mar/ temendo menos a ausência/ de resgate na superfície/
que a povoação alheia/ e por isso informe, abaixo/ n’água,
invisível, mas parte/ integrante das estruturas/ do dia real’
(p. 11).
O segundo poema, Tecido, prossegue nessa trilha: "A erosão pressupõe/ fé na água" (p. 15). A busca da forma se dá por meio da erosão, do desgaste que, modelando a matéria, cria um corpo, com um "ferimento/ sempre reaberto" (p. 16). Esta ferida liga-se a uma herança simbólica que tem sua atualidade política:
estende-se nele
como se adentrasse
o local santificado
por um passado
bélico:
dita que os mortos
a um céu
que não lhes pode
repudiar o cheiro. (p. 17)
Se essa realidade pode bem ser a de países como o Brasil, o profeta mencionado a seguir parece indicar a Alemanha após a reunificação (o "Anschluss", p. 70) e ao genocídio sofrido pelos judeus. Mas o profeta é recusado; em vez disso, o "anátema" é reivindicado como "júbilo". O anátema? Outro poema, um dos maiores do livro, Os materiais, a lição: cinco variações, revela-o: "o sangue/ procura deter-se/ num trecho de pele/ um instante:// toque do anátema,/ farol, ex-amante" (p. 22). Trata-se de um amor homossexual e, portanto, condenado pela tradição judaica:
[...] as dificuldades pai alemão mãe
judia passar o sábado todo assistindo-
o vê-lo observar o sábado pedir pelo
que é kosher sim querido começa
em
alguns dias a Chanukka4
quando em
um cerco inimigo ao templo o óleo
durante oito a perseverança do óleo me
cai bem (p.70)
Condenado também pela tradição cristã, uma das derivações do monoteísmo judaico: "Eu desconheço quanto// deserto custa/ uma epístola/ aos coríntios;" (p. 39); "[...] que/ digestão suporta/ uma hóstia?" (p. 63); "Mas separam-nos/ o jejum e as/ orações de minha mãe" (p. 63); a imagem do pão partido (como em páginas 66 e 77); pode-se lembrar também da sutil referência à fé cristã e a sua infelicidade no poema Em comum (p. 47).
O livro conta uma história bem simples: o personagem lírico, brasileiro, vivia na Alemanha e namorava um filho de pai alemã e mãe judia, nascido na então Alemanha Oriental (p. 70) e muitas vezes doente, real ("[...] quero/ induzir-me à febre à gripe/ à cama necessária/ imitá-lo mesmo na doença", p. 68) ou imaginariamente ("seu condiloma imaginado", p. 63); a religião e a família trouxeram obstáculos à relação, o personagem voltou a São Paulo, mas sozinho ("Infelizmente não poderei/ ir a São Paulo por/ enquanto [...]", p. 60), e fez sexo com outros ("não colaboro com/ a insônia alheia faço/ sexo com outro e/ outro e o corpo estende/ faixas obrigado/ obrigado/ pela graça/ alcançada", p. 68); enfim, a separação (p. 90).
A poesia ocorre obliquamente a essa prosa, a essa ficção de intimidade amorosa. Em um dos traços originais desse autor, metalingüística e erótica se encontram porque ambas lidam com a construção de uma forma ou de um corpo.
A
água, aqui, simboliza a busca e a dissolução
da forma. Na entrevista antes referida, Domeneck falou da importância
de Eliade para a questão do anfíbio, "habitante
do duplo em unidade"5.
Por causa de sua condição biológica de intermediário
entre os vertebrados aquáticos e os terrestres (segundo o poeta:
"Cubro meu corpo de água/ duas vezes ao dia", p.
98), os anfíbios têm papel destacado em simbologias tradicionais:
a Grande Rã, na Índia, é vista como "suporte
do universo" e "símbolo da matéria obscura
e indiferenciada"6.
Para tribos australianas, a Grande Rã, Dak, sorveu toda a água,
até que a serpente a fez rir e abrir a boca, gerando assim
o dilúvio, mas também a criação de uma
nova humanidade, regenerada7.
A indiferenciação das formas está ligada ao universo
simbólico dos líquidos; as águas, segundo Eliade,
"simbolizam [...] o reservatório de todas as possibilidades
de existência; precedem toda forma e sustentam toda criação"8.
Enquanto o movimento de emersão simboliza a manifestação
da forma, o da imersão corresponde à dissolução.
Por conseguinte, "o simbolismo das águas implica tanto
a morte como o renascimento"9.
Em Domeneck, pode-se ver reencenada a gênese da vida em um simples
banho:
quando finjo que me afogo
na banheira
ou a um metro
louça e areia
seguras sob os ísquios
os pulmões dizem mais
um pouco
e os dedos de mãos
e pés enrugam-se
num preparo à dissolução
última
coberto de escamas
e os pulmões dizem
e a cabeça
emerge
como uma ilha
ou aquela
primeira célula (p. 83)
Ou: "a densidade em quaisquer hierofanias/ jamais excede/ a que meu corpo apresenta/ imerso na banheira,/ água, carne: praia" (p. 51), "mar que retorna/ das origens a um corpo" (p. 52).
Em Domeneck, esse simbolismo, quando trata do corpo e das formas, está associado a vasos, cântaros e garrafas cuja forma, paradoxalmente, é ditada pelo líquido que contêm: "a fala inaudita d’água/ na garrafa: ao chocarem-se/ em continentes de carência,/ o conteúdo dita a forma.// (como a água modela o corpo) (p. 22); "poço// hipnotizado// pela água que// contém// acreditando piamente/ que ela é que o mantém/ vertical," (p. 43).
O corpo é assimilado a esses vasos ("e quando o vaso nas mãos/ sangra", p. 27) e sofre da nostalgia do indiferenciado, do seu passado líquido: "[...] no forno/ aguarda-nos/ a paciência do que, sólido,/ mantém características/ de seu passado líquido,// mas não o indivisível." (p. 28); "corpo e água:// conglomerado sem esforço,/ o corpo reunido vinga-se/ do ar em dispersão contínua.// (e sobre mim despenca em chuva)" (p. 21); "e quando os cantos da boca ressecam/ e racham,/ é com alegria que os cântaros/ tocam com barro o barro.// (e a água preenche as fendas)" (p. 41). Para o corpo imitar esse movimento original da água, nada mais adequado do que as hemorragias: "o sangue escorrendo/ das narinas no momento/ do aperto de mão do estranho" (p. 53), "entre veia e espinho/ o diálogo é explícito" (p. 29), Navalha é uma vontade dormente (p. 47), "sangramento normal/ à pia do banheiro/ colore-me a boca/ sensação de frescor e medo" (p. 61).
Os versos geralmente curtos, cortados de forma que se tenha freqüentemente enjabement, o ritmo irregular, a ausência de rima, os anacolutos são empregados de forma a sugerir esse movimento de imersão/emersão, manifestação/dissolução das formas. Trata-se de um dos sucessos do livro: a transformação de certa metalinguagem em um modelo formal apropriado.
No campo da erótica, o livro constrói um corpo cuja forma é ditada pelo desejo. Pois o anfíbio é um desejante: "terra ao redor do poço/ querendo a água e dela/ separada pelas paredes/ do próprio poço// querença, desejo// tal falta sem trânsito// a água esta culpada" (p. 43); "o sangue escorrendo/ das narinas no momento/ do aperto de mão do estranho,/ (toda apresentação/ deveria consistir de uma troca/ de secreções)" (p. 53); "o que recende e/ ascende deste lençol/ encharcado do suor/ de um único/ dono não mais/ condensa-se ou/ mistura-se/ à extensão de/ outro corpo" (p. 67); "às portas de um deserto/ a boca úmida/ de um homem" (p. 86); "Reabasteço meu corpo de chá e/ de orgasmos [...]" (p. 97). O poema em que essa noção talvez encontre a expressão mais feliz seja Na contingência de suas mãos; quando as mãos do amante o tocam "nos acidentes deliberados sei/ do sangue correndo/ para irrigar obediente/ minha pele" (p. 77); "mas o tempo todo/ a água entornando/ de um copo para/ o rio e o braço/ levando o copo de/ volta à água provam que/ continente e conteúdo/ em certos momentos/ confundem-se/ (o prazer descarta-os)/ para a nossa vitória" (p. 78).
Nesse jogo, não é de estranhar que haja incerteza em relação ao sujeito: "eu passo a existir em dois pontos/ como se um rio fosse a soma/ de uma superfície e duas margens?" (p. 30). E o humano é um acrobata (refiro-me a verso de Rosmarie Waldrop citado no poema O pêndulo, a represa) porque deve saltar entre o "anúncio do dilúvio/ e o/ deserto vermelho" (p. 35). Esse salto pode levar à queda ou à dissolução (o risco de imergir completamente no desejo): "meus ossos não são inquebráveis" (p. 30); "todo touro investido na arena/ contém em si uma iminente/ fratura do meu crânio" (p. 31). A ameaça de dissolução está sempre próxima, e ela não está ligada à globalização, e sim a um dado psíquico primordial. Pelo contrário, a ida a outros países — talvez por colocar a nu a alteridade — serve aqui para afirmar uma identidade e fronteiras:
Surpreso a quanta terra
não me pertence,
engraçado descobrir (mais
uma vez) que trocar de país
não significa trocar de corpo
e a mudança
de língua
é acompanhada pela permanência
da produção da mesma
saliva. (p. 37)
Nesse poema, Sempre o exílio, o exílio aparece como a condição que resta, desaparecidas "[...] as noções/ de segurança/ e cidadania" (p. 38). O livro, apesar do diálogo com certos poetas estrangeiros, não chega a entrar na questão do pós-nacional, contudo, e fica apenas em um universo estritamente lírico, no qual "não importa em/ que margem do/ Atlântico [...]" (p. 79)... A própria questão de morar em outro país fica na chave lírica – razão pela qual o próprio poeta faz o paralelo com One Art de Elizabeth Bishop (p. 81), conhecido poema em que a autora americana, que acabou por viver muitos anos no Brasil, tematizou suas perdas, incluindo casas e países.
Nesse
ponto, creio que a interpretação de Carlito Azevedo
para a noção de anfíbio, embora interessante,
sofra ao ver na geração de Domeneck um caráter
anfíbio definido desta maneira: "mais do que responder
às propostas e questões das gerações anteriores",
boa parte dessa geração teria evoluído "a
partir das turbulências causadas em sua sensibilidade pelo contato
com a poesia estrangeira"10.
De
um lado, essa afirmação não pode levar-nos a
esquecer que Domeneck mantém sim um diálogo com a cultura
brasileira: com Murilo Mendes (p. 49-50) Drummond (p. 101 e, na p.
23, com Quixote, o que parece evocar, do livro As impurezas do
branco, o poema Quixote e Sancho, de Portinari, e p.
101), Hilda Hilst11
(p. 93), Cruz e Sousa, João Cabral de Melo Neto e Orides Fontela
(p. 101); com Darlene Glória na filmagem de peça de
Nelson Rodrigues por Arnaldo Jabor (Toda nudez será castigada)
(p. 65); com Clarice Lispector, em interessante poema feito a partir
de eventuais anotações de leitura de uma edição
brasileira de Perto do coração selvagem (primeiro
romance da escritora) por uma estranha em uma biblioteca alemã
(p. 73-75). Ademais, faz-se presente a cor local: São Paulo
aparece com assassinatos (Estudo figurativo, p. 45), a rua
Augusta (p. 66, 68, 71-72) e o MASP (p. 93).
Por
outro lado, deve-se lembrar que não há novidade em uma
geração brasileira "evoluir" (ou formar-se)
a partir do contato com a cultura estrangeira. Pelo contrário,
trata-se mesmo de um traço estrutural da cultura brasileira.
Pode-se ver na poesia, entre tantos exemplos, a importância
da literatura européia (como a de Victor Hugo) para um poeta
de caráter tão nacional como Castro Alves; a influência
do cubismo no jovem João Cabral de Melo Neto, que homenageou
Picasso em Pedra do sono; a importância de Pound e
Mallarmé para a construção desta vanguarda nacional
que foi o concretismo; Baudelaire, Eliot e Mansfield processados por
Ana Cristina Cesar. Lembra Antonio Candido que a literatura brasileira
nasceu da incorporação de culturas estrangeiras —
e não a partir de uma literatura autóctone dos indígenas12
— e que, a partir do modernismo, os escritores brasileiros tornaram-se
"mais informados e permeáveis a correntes internacionais
do que a média dos predecessores"13.
Em
um plano mais amplo, deve-se lembrar que a própria formação
do Estado brasileiro deu-se com a assimilação de idéias
estrangeiras14.
Portanto, não vejo, na assimilação e citação de poetas estrangeiros (que convive com a de artistas brasileiros), novidade em Domeneck, nem o caráter específico do "anfíbio". Essa metáfora está ligada às feições que tomam as formas e o sujeito em sua obra, ameaçados de dissolução pelo desejo. Como na Carta essa dissolução está a todo o tempo subjacente (a água é um "solvente universal"), a doença ("minha coluna uma torre de inclinações/ contínuas/ a garganta sobrevive ilesa/ às inflamações/ periódicas", p. 52) e a morte nunca estão distantes. O fecho do livro, pois, com Lembrete (p. 101), é muito adequado. Trata-se de um poema análogo ao Homenagem de As impurezas do branco, em que Carlos Drummond de Andrade enumera escritores que se suicidaram — isto é, escolheram a "dissolução". Em Domeneck, trata-se da simples e efetiva enumeração das circunstâncias de morte de Cruz e Sousa, Celan, Frank O’Hara, Christine Lavant, Alejandra Pizarnik, o próprio Drummond (curiosamente, o único momento sentimental do poema), Pasolini, João Cabral de Melo Neto, Orides Fontela. Diferentemente do poema de Drummond, nele convivem vários tipos de falecimento: suicídio, exclusão social, doença, atropelamento, espancamento...
O sucesso do primeiro livro de Domeneck é temperado por momentos menos resolvidos formalmente, como a insistência em afirmações categóricas: "tudo conspira/ pelo uno." (p. 41), "o adulto é a última utopia" (p. 54), tentativas de definição: "(o ferido é o susto/ do avulso)" (p. 17), "O pulso é meu incentivo à falta/ de repouso" (p. 88), bem como quedas no sentimental: "isso não impediu/ que eu o perdesse" (p. 90).
Trata-se
ainda de uma busca de formas. Heitor Ferraz15,
em certos poemas de Carta aos anfíbios, identifica
um processo de mixagem de sonoridades, assimilando o poema a uma "caixa
de ressonância", que prosseguiria nos poemas posteriores
ao livro, que buscariam a "simultaneidade".
Esses
poemas, que estão na revista Hilda, antes referida,
parecem-me buscar um descentramento do sujeito, sempre flutuante:
não se sabe quem faz a elocução, e diálogos
são sugeridos e abandonados. Aqui também, não
há propriamente novidade. A comparação que Carlito
Azevedo faz de Domeneck, no tocante ao estatuto do corpo, com a poesia
de Ana Cristina Cesar parece-me aqui muito pertinente. Em Domeneck,
nos poemas de Hilda, pode-se ler: "Como você,
não/ prefiro a/ não-ficção./ Não,
senhor,/ cogito/ a possibilidade./ Ela senta-se, Gauloise/ à
mão: "Non, la/ Disneyland c’est pas/ LA FRANCE [...]"16;
ou "Cochilo como técnica./ Traduzir "When / set/
up his own monument"/ por "Mauá / não olha
a própria estátua"/ Oportunidade/ de dar-se/ um
nome/ à vivência./ We possess nothing"17.
Isso
pode ser assimilado, como procedimento, a "Dear me! Miss
Brill didn’t know whether to admire that or not!/ Fini
le voltage atroce./ Fico olhando para o desenho e não vejo
nada."18;
"Tremuras da desordem. Assuntos que não sei./ Mala diplomática
apenas por um fio./ I
can’t give you anything but love, babe./ Praga.
É uma praga. Você só gosta das partes difíceis."19.
Aqui também, como nos cadernos deixados por Ana Cristina Cesar,
segundo a expressão de Flora Süssekind, pode-se encontrar
a "imagem-em-abismo" do "descentramento" do sujeito20.
Que
caminho próprio seguirá Domeneck? Provavelmente já
o segue, embora seja cedo para o perceber. Talvez uma pista seja o
poema A tentação do homogêneo (p. 15-18),
publicado anteriormente na revista Cacto21,
em que revela um desejo pelo fragmento e pela erosão. Se nele
persistir, o autor poderá ser embalado; mas só "como
o martelo/ ao prego"22.
______________________________________________
Ricardo
Domeneck. Carta aos Anfíbios (Rio de Janeiro:
Bem-Te-Vi,
2005)
_____________________________________________
Mais Pádua
Fernandes em Germina
> Poemas
março,
2006
Pádua
Fernandes. Nascido
no Rio de Janeiro em 1971, vive em São Paulo, onde é
professor universitário. Foi colaborador da extinta revista
portuguesa de cultura Ciberkiosk
e integra o conselho editorial das revistas Jandira (Juiz de Fora)
e Cacto (São Paulo). É
autor de O Palco e o Mundo, poesia (Lisboa, Edições
Culturais do Subterrâneo, 2002). Organizou e escreveu o posfácio
da antologia de Alberto Pimenta, A Encomenda do Silêncio
(São Paulo, Odradek Editorial, 2004).